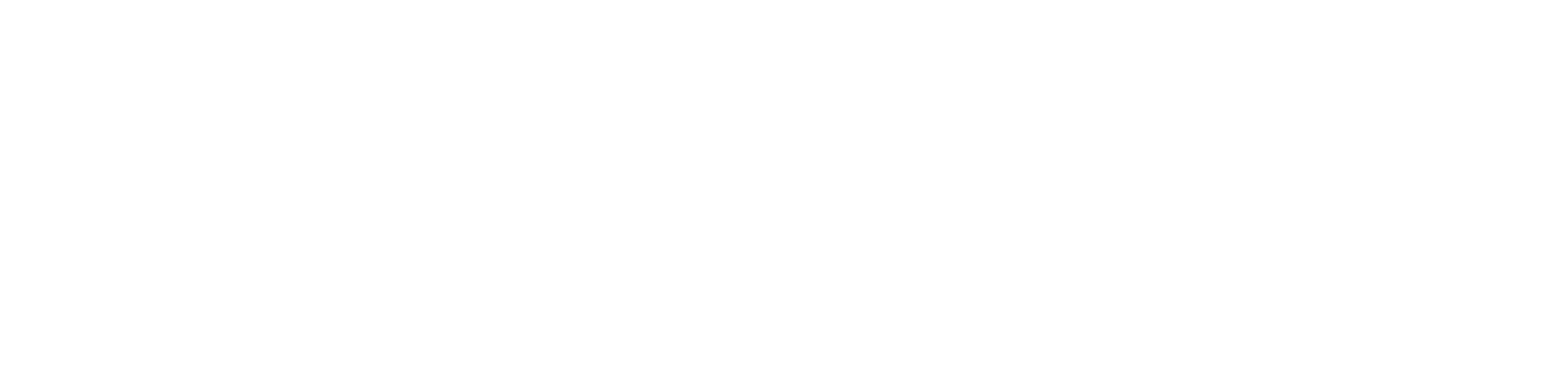Tarso Genro: Terrorismo e o sentido histórico da tolerância
Theodore John Kacziynsk, o “Unabomber”, um matemático americano, para protestar contra o que presumia ser a barbárie da sociedade industrial cometeu vários atentados terroristas. Matou e feriu dezenas de pessoas,…
Publicado em
Theodore John Kacziynsk, o “Unabomber”, um matemático americano, para protestar contra o que presumia ser a barbárie da sociedade industrial cometeu vários atentados terroristas. Matou e feriu dezenas de pessoas, amparado na fé em seus “ideais” sociais e ecológicos.
Theodore não caracteriza o povo americano, mas o Estado americano promoveu nas remotas aldeias do Vietnam – com as bombas de fósforo e o “agente laranja”- o mesmo tipo de barbárie odiosa que o Estado Islâmico está promovendo, hoje, na França. Theodore não é Lincoln nem Martin Luther King, muito menos Emerson e Thomas Jefferson.
Menachen Begin — líder da organização terrorista Irgun, na Palestina de então — orientou o assassínio e feriu milhares de pessoas inocentes, pelo que afirmava ser uma luta pela formação do Estado de Israel. Passou a ser Primeiro Ministro do país a partir de novembro de 77 e iniciou a instalação de colonos judeus, na Faixa de Gaza. Mas o povo judeu não é nem nunca foi um povo de terroristas e as sinagogas jamais foram espaços de reprodução do ódio e propagação da violência. Menachen Begin não é Amoz Oz nem Isaac Rabin, muito menos Gerson Scholen e Martin Buber.
Adolf Eichmann — que a judia Hanah Arendt demonstrou ser um burocrata comum do Estado Nazista — mandou centenas de milhares de judeus para a morte nos Campos de Concentração do III Reich, sem nenhum problema de consciência. Eichmann não é o povo alemão, mas sim a crueldade burocrática do nazi-fascismo sem nacionalidade, que não tem pátria nem vínculos de classe definitivos. Eichmann não é Goethe nem Schiller. É mais parecido com um chileno, Pinochet, muito distante de Willy Brandt e Rosa de Luxemburgo.
Stálin organizou o assassinato da velha guarda bolchevique e firmou seu poder unipessoal sobre o novo Estado, castrando o sentido libertário da Revolução de Outubro e sob sua tutela centenas de milhares morreram na coletivização forçada. Stálin não foi nem Che Guevara nem Ho Chi Min e esteve mais próximo de Robespierre e Napoleão, do que de Marx e Gramsci. Não se deve a ele, Stálin, mas ao povo soviético e à Revolução Socialista que se fundiu com a ideia de nação, a derrota do nazismo.
O Islamismo não é uma religião de ódio. Nem os povos islâmicos, árabes ou não, são propensos a matar ou ferir em nome da sua fé. O EI não é o Islã, mas um fundamentalismo transfigurado em terror, programado por um Estado e uma organização supostamente “política”, não por um povo ou por uma religião. Confundir o Estado Islâmico com o Islã é como dizer que o Vaticano representou Cristo quando instituiu a Inquisição e que existe uma linha direta entre Deus, Cristo e Torquemada.
A tolerância que não adquire carnalidade histórica em momentos de crise é uma falsidade que alimenta a barbárie. Ela transforma o inimigo real – o sectarismo erigido à condição de Estado ou de organização supostamente política – seja ela “islâmica”, “judia”, “americana, “alemã, “soviética”, na falsa representação de um povo, de uma cultura política ou de uma religião. A “revanche”, então – nestas circunstâncias – contra os atos de barbárie terrorista, passa a ser dirigida contra um povo em abstrato, contra uma religião em abstrato, contra uma cultura em abstrato.
Seria como aceitar que temos que nos “vingar” do povo americano pelas chacinas no Vietnam, do cristão pela Inquisição, do povo alemão pelos campos de concentração, do povo judeu pelo terrorismo do Irgun e pelos massacres do Sahbra e Chatila, dos comunistas pelos crimes de Stálin, da religião e da cultura islâmica pelas barbáries do EI. A aceitação de uma vingança em abstrato contra comunidades indeterminadas, religiosas, políticas, nacionais, é um convite a mais guerras e à preparação de massacres e retorções sem fim. Esta vingança em abstrato só leva à morte e à destruição, não ao diálogo entre povos e culturas e às soluções ditadas pelo humanismo e pelo acordo entre diferentes legítimos.
O combate policial e militar ao terrorismo, se quer ser eficaz, pergunta: onde estão os grupos de ação do terror, quais são as suas ações passíveis de serem abortadas, como neutralizá-los pelo combate frontal sob o império da lei? O combate político estratégico, se quer ser verdadeiro, questiona o seguinte: por quê eles desencadeiam o terror, de onde tiram seus exemplos e suas armas, quem os organizou e com quais objetivos?
A tolerância verdadeira é difícil de ser implementada, porque ela pode chegar à constatação de que a indústria armamentista e a ocupação do Iraque – por exemplo – tem afinidades e que, por trás de todo este ódio, está uma disputa pelas últimas grandes fontes de energia fóssil do planeta e não um choque de civilizações. A tolerância verdadeira separa o criminoso da sua comunidade pacífica, separa a responsabilidade do cidadão da sua comunidade étnica e religiosa. E o faz, porque é isso que dá legitimidade à luta contra terrorismo e a transforma numa luta em defesa dos inocentes que são atingidos, não das políticas de Estado que ajudaram a provocá-lo.
“Trazer à luz as possibilidades silenciadas”. Esta frase, que li em algum lugar num texto sobre Walter Benjamim, foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça quando comecei escrever este texto. Será possível transformar o escuro em luz, o oculto em esclarecimento, o sofrimento em razão na defesa da paz? É difícil, uma utopia. Mas existe outro caminho? Se não for possível, toda a nossa geração e as futuras, provavelmente estarão condenadas a viver um falso “choque de civilizações”, que na verdade é choque de interesses econômicos e militares entre as elites de civilizações diferentes, na defesa do seu modo de vida e dos seus privilégios.
Que assim não seja, pelos mortos da França, pelos mortos nos campos de extermínio de Hitler, pelos mortos de Shabra e Chatila, pelos mortos soviéticos na luta contra o nazismo, pelos mortos do World Trade Center, pelos mortos de Atocha em março de 2004 na Espanha. Que assim não seja.
Tarso Genro é ex-governador do Rio Grande do Sul. Foi ministro da Justiça, da Educação e prefeito de Porto Alegre pelo PT