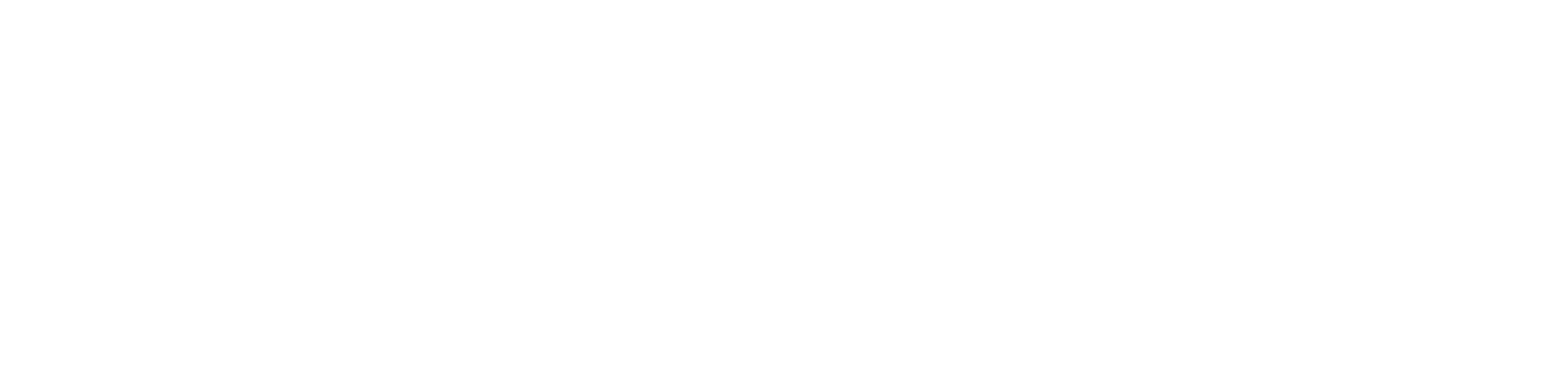Miguel Jost: “É melhor fazer uma canção”
Debates provocados por Anitta mostram que a música brasileira ainda pode construir imagens do país.
Publicado em
Caetano Veloso afirma em “Língua”, canção lançada em 1984 e certamente uma das reflexões mais importantes sobre o espaço que o português falado no Brasil ocupa no mundo, que “se você tem uma ideia incrível é melhor fazer uma canção/ está provado que só é possível filosofar em alemão”.
Uma consistente bibliografia, jornalística e acadêmica, corrobora a premissa de Caetano Veloso a partir de dados históricos e formulações que demonstram a centralidade que a música teve em nosso país como um espaço de mediação para grandes temas políticos e sociais. Nesse sentido, poderíamos dizer que a canção popular no Brasil produziu uma dimensão antropológica e sociológica que acompanhou e, por muitas vezes, até se sobrepôs aos seus debates de natureza estética.
É por esse contexto que podemos compreender a explosão de um enorme conjunto de análises que o videoclipe de “Vai malandra”, recentemente lançado pela cantora Anitta, provocou entre críticos, artistas e público em geral. A possibilidade de interpretarmos uma série de problemas que estão no centro do debate contemporâneo do país, e sobre os quais sabemos que é urgente avançarmos, mobilizou a opinião pública de uma forma que dificilmente outra linguagem, excetuando-se a da telenovela, poderia conseguir.
Questões de gênero, sexualidade, identidade, racismo, desigualdade e um conjunto de outras tantas questões sobre os modos de representação dos territórios ditos periféricos foram analisadas em larga escala nas redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais. Por fim, o que novamente se discute é uma imagem de Brasil que a música popular ainda pode construir ou representar.
É importante destacar que no vasto material de críticas e opiniões publicadas também não faltaram vozes para deslegitimar “Vai malandra” sob o velho estigma de baixa cultura e, por consequência, mais uma vez, promover a ideia do funk como gênero musical que não faria jus à forte tradição da nossa música popular. Uma argumentação recorrente que se desdobra desse tipo de postura é aquela que tenta colar no gênero a pecha de mera cópia ou de subproduto derivado da cultura pop norte-americana. Nessas horas é sempre bom lembrar a crítica do jornalista Cruz Cordeiro publicada em um jornal carioca poucos dias depois do lançamento de “Carinhoso”, por Pixinguinha. Segundo o jornalista, a faixa seria “pura música popular ianque”, e em nada contribuía para o desenvolvimento da cultura brasileira.
No entanto, talvez mais produtivo do que combater outra vez esse tipo de postura conservadora que vai sempre querer “matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”, seja aproveitar a janela que se abre com a mobilização do debate público provocado pelo videoclipe de Anitta para jogarmos uma nova luz sobre a atuação de intelectuais e críticos que delinearam a historiografia da nossa produção cultural. E observar como esses chamados intérpretes do Brasil, que escreveram obras com perspectivas positivas e elogiosas sobre a incorporação de manifestações da cultura popular, também contribuíram para exclusão de dados históricos e personagens que não se adequavam a uma imagem de país que lhes interessava produzir em seus trabalhos. Imagem essa que nasceu a partir das teses defendidas pelos modernistas reunidos em São Paulo, com ênfase especial em formulações propostas através da obra crítica de Mario de Andrade.
Se entendemos hoje, com enorme clareza, que o debate sobre cultura foi feito no Brasil por autores com perfis social, econômico e de gênero homogêneos, e que é fundamental criar outra composição desse debate a partir da inclusão de vozes historicamente alijadas dos nossos processos de reflexão crítica, podemos concluir que revisitar certas bibliografias, assim como rever alguns postulados consolidados sobre a formação da cultura brasileira, pode também contribuir em larga escala para compreender por que nossa sociedade ainda enfrenta desafios na luta pela garantia da visibilidade de mulheres e negros, por exemplo.
No caso específico da música, podemos citar dois exemplos, entre outros de natureza semelhante, nos quais a crítica operou pela manutenção de abordagens difusas que, consequentemente, produziram interpretações nebulosas sobre passagens importantes da história da nossa cultura.
O primeiro, e talvez mais significativo exemplo nesse sentido, seria o nosso desconhecimento sobre o nascimento do samba. A crença de que um dos mais efetivos movimentos da nossa formação cultural surge de forma orgânica, que algumas mulheres e homens que batucavam no quintal de uma casa na Praça XI foram levados à condição de protagonistas da música popular por uma convergência de fatores aleatórios, funciona há décadas como estratégia de invisibilização do corpo e da voz do negro no Brasil.
O que diversas entrevistas de Donga, autor que registrou com Mauro de Almeida “Pelo telefone”, nos revelam é que a consolidação do samba foi resultado de uma série de estratégias definidas em reuniões que envolveram os compositores que frequentavam a Praça XI e que tinham como propósito, nas palavras do próprio Donga, “apertar o cerco sobre a Odeon”. A escolha do tema da música, o caráter explícito de crônica sobre o cotidiano da cidade, a citação à emergência da tecnologia do telefone e sua interferência na vida das pessoas, a redução do número de compositores que assinariam a música, a presença de um jornalista branco como compositor ao lado de Donga, o registro da canção na Biblioteca Nacional, o foco em uma gravadora internacional que se radicara há pouco no Brasil, entre outros elementos que constituíram esse processo, são todos dados concretos de uma visão estratégica e moderna que foi formulada por esses agentes a partir uma leitura aguda da realidade brasileira e do desejo de intervir nela.
Outro exemplo que contribui para essa revisão crítica de forma decisiva são as análises sobre as trajetórias de compositoras e cantoras que dominaram o mercado da música no fim da década de 40 e nos anos 1950. Como demonstra o historiador Marcos Napolitano, autor de um ensaio brilhante sobre a música desse período, o que a caracterização dessa produção como “fossa” denota, e as recorrentes abordagens que apontam essa época como um momento de diluição da música popular reforçam, é uma postura de desprezo e preconceito dos críticos sobre o protagonismo dessas mulheres. O termo “macacas de auditório”, surgido nesse momento para adjetivar fãs que se concentravam na porta dos auditórios da Rádio Nacional, seria o paroxismo desse processo de discriminação e apagamento do papel fundamental dessas mulheres na nossa música.
Não é difícil notar que, na virada para a década de 60, esse protagonismo se transferiu para homens jovens de classe média. A mulher só voltaria ao palco principal da música popular na condição de musa e intérprete desses compositores. Sem recusar o profundo valor da contribuição estética da bossa nova, é necessário sublinhar com muito mais atenção os procedimentos críticos que excluíram essas artistas, em sua maioria de origens periféricas, algumas semianalfabetas ou filhas de pais analfabetos e subempregados, de uma cena musical que se consolidava como um mercado cada vez mais relevante do ponto de vista econômico, e que gerava margens de lucro cada vez maiores.
Resultado direto e objetivo do contexto político contemporâneo, temos no Brasil hoje uma oportunidade efetiva não só de construir um debate sobre cultura a partir de parâmetros mais democráticos, mas também de rever certas narrativas que definiram nossa ideia de país. Para isso, se torna cada vez mais fundamental e urgente entender o que dizem as subjetividades malandras e periféricas. Quais sentidos elas produzem a partir da afirmação de seus corpos e de suas vozes como meios de reflexão sobre o país. Que conflitos, e não conciliações, elas explicitam em favor desse debate. E, por fim, escutar mais uma vez um filósofo alemão que certamente não escrevia canções: “é necessário escovar a história a contrapelo”.
* Miguel Jost é professor do Departamento de Letras da PUC-Rio e pesquisador de políticas públicas para cultura.
(Artigo publicado originalmente no Jornal O Globo, em 30/12/2017)