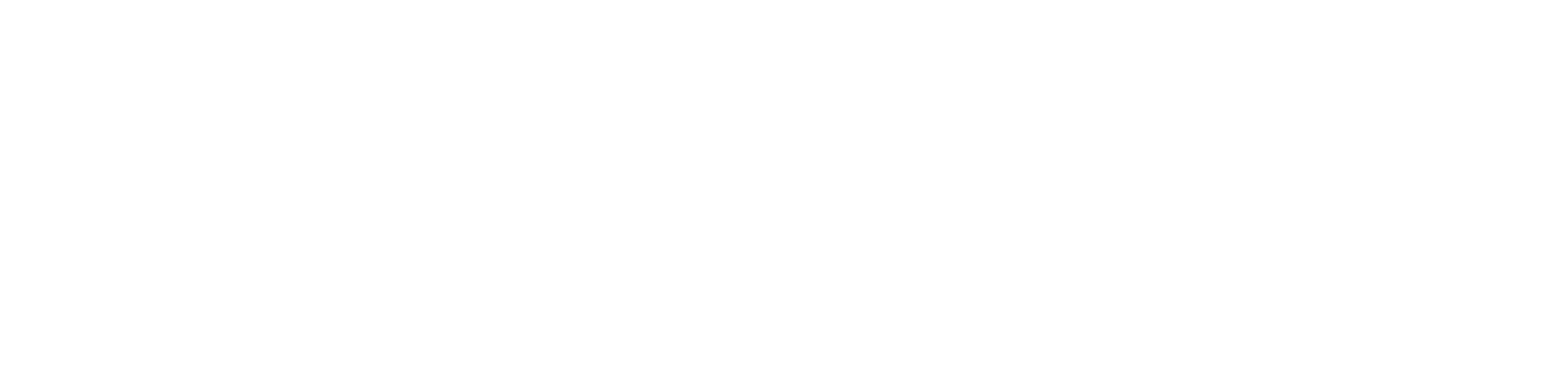Artigo: “Sete de Setembro, eu vou!”, por Luiz Marques
“Sair às ruas em Sete de Setembro significa apostar a participação na política, passaporte civilizacional para o futuro’, afirma o professor e cientista político Luiz Marques
Publicado em
“Caminhando contra o vento… / O sol se reparte em crimes… / Em caras de presidentes… /
Por entre fotos e nomes… / No coração do Brasil… / Eu vou / Por que não / Por que não”
– Caetano Veloso (Alegria, Alegria)
Em Sete de Setembro aniversaria a Independência do Brasil, antes uma colônia portuguesa. Daí não adveio a criação de um regime republicano, como nos países vizinhos da América Latina, mas uma Monarquia que perduraria até 1889, data da Proclamação da República. No ano anterior, o país havia decretado o fim da escravidão, a última nação a abjurar a infâmia que, como profetizou Joaquim Nabuco, seria fácil abolir e difícil de extirpar das relações sociais.
As consequências da infâmia perduram no desprezo atávico pelo trabalho manual, fruto de três séculos e meio de escravidão no território que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo: cerca de cinco milhões de seres entre os que sobreviveram à travessia oceânica. Quantidade superior não resistiu às condições desumanas das galés nos “navios negreiros”. Das viagens de horror, a condição de brasilidade trouxe as cicatrizes que carrega n’alma melancólica, na célebre interpretação do paulista Paulo Prado (1869-1943).
O patético grito (“Independência ou Morte”) às margens do riacho Ipiranga, relatado nos livros escolares, não contou com a mobilização popular. Do gesto heroico de Dom Pedro I, empunhando a espada montado no cavalo branco, soube-se pelo quadro imortalizado.
A transição pelo alto se repetiria em outros momentos. O transformismo lampedusiano (“é preciso que tudo mude para que tudo fique igual”) foi aplicado no país quando o conceito ainda não havia migrado do evolucionismo biológico para a seara política. A própria abolição, desacompanhada de uma reforma agrária para alocar os escravos libertos e/ou de uma indenização pecuniária pela exploração do trabalho forçado por várias gerações, confirmou a máxima ao jogar nas periferias das grandes cidades os antigos marginalizados, trazidos em ferros do continente africano. Situação que se prolonga até os dias atuais.
Ao transformismo somou-se a mistificação na história. Lilia Moritz Schwarcz (Sobre o Autoritarismo, 2019) observa que logo após à Independência foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que realizou um concurso público com o tema: “Como se deve escrever a história do Brasil?”.
A ementa visava a construção de uma narrativa que:
a) valorizasse a lida da colonização europeia;
b) enaltecesse o sentimento de pertença à jovem nação;
c) reforçasse a crença na mistura das raças (brancos, negros, indígenas) e;
d) sublinhasse o discurso sobre a propalada “democracia racial”.
Coube ao antropólogo Artur Ramos (1903-49) cunhar a expressão. E, ao sociólogo Florestan Fernandes (1920-95), classificar de “mito” a fábula repetida à exaustão pelo oficialismo como uma forma de ocultar as diferenças étnicas e a estrutura de classes legada do período colonial. O pernambucano Gilberto Freyre (1900-87) encarregou-se de mostrar que a mestiçagem, vista qual uma singular virtude, surgiu dos frequentes estupros na cozinha da Casa Grande.
O país que herdou o nome da primeira mercadoria expropriada, pau-brasil, não teve pejo em fabricar uma mistificação sobre a realidade para apagar a ideia de conflito, considerada negativa para a imagem no exterior. Era como se a Senzala fosse a criação literária de algum romancista com asas na imaginação. Chamou-se de brasil-eiros os nascidos na vastidão da terra em que plantando, dá. O sufixo, no entanto, serve para designar ocupações tipo marcineiro, meeiro, marinheiro. Gramaticalmente, o correto para nomear uma nacionalidade seria brasiliano ou brasiliense. Eis por que o vocábulo não encontra tradução nos demais idiomas. Um sufixo revelou o imenso desapreço da metrópole lisboeta pelos nativos daqui.
Se é verdade, como escreveu Marx, que a ideologia dominante em cada época é a ideologia da classe dominante, o mesmo vale para as estátuas, as esculturas, os monumentos que ocupam as praças públicas e as placas com nomes das ruas e logradouros. O que se verifica há décadas é a tomada de consciência e a revolta de grupos subalternos expressa em pichações, depredações, vandalizações do que o poeta Mario Quintana reputava “erros em bronze”. Nem rir e nem deplorar, senão compreender, essa é a tarefa.
No curto idílio da Comuna de Paris (1871) e na cruenta guerra civil que sangrou a Espanha (1936-39), os insurgentes também queimaram igrejas e iconografias religiosas por considerar que o clero no passado contribuíra para o processo de dominação e exploração do povo. Não se controla tsumanis de rancores acumulados nas massas, viu-se no ataque da autodeclarada Revolução Periférica à estampa em fibra e pedaços de ladrilhos, de Borba Gato, em São Paulo, recentemente. Assim caminha a humanidade, reinventando-se, às vezes desconstruindo-se.
“Em memória do coronel Ustra”
O idólatra de torturadores, Jair Bolsonaro, invocou fantasmas ao votar pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade que embasado em dispositivos da Constituição justificasse a violência institucional, no plenário da Câmara Federal de Deputados. O Ustranaro é, em termos metonímicos, o sufixo que nos primórdios emprestou uma conotação pejorativa à identidade nacional. Seu desapreço genocida pela vida dos brasileiros está gravado nas centenas de milhares de lápides evitáveis, não fosse a deliberada incúria e a prevaricação, segundo apurou a CPI da Covid-19, no que concerne à aquisição de vacinas e ao superfaturamento das doses para combater a pandemia, sob o desgoverno em curso.
À tal figura política e humana deplorável o antipetismo da Rede Globo e o Judiciário, na esteira do serviço sujo prestado com a corrupção das leis, da presunção de inocência e o uso do lawfare pela Lava Jato, – conduziu ao poder nas últimas eleições. Quem inspirou e se beneficiou com a trama espúria foram os Estados Unidos. Haja estômago e sal de fruta para aguentar a abjeta militância jurídica de lesa-pátria do ex-juiz, do procurador e companhia.
O golpe de 2016, com o afastamento de uma mandatária honesta, prosseguiu com o impedimento do candidato melhor colocado nas pesquisas em 2018. O assalto aos direitos da população, com Temer e Bolsonaro / Guedes, só foi viabilizado com a retirada da pedra que havia no meio do caminho: o Partido dos Trabalhadores (PT). A destruição de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, juntamente com a precarização do trabalho, o arrocho salarial e o desemprego não seriam possíveis sob o comando da esquerda. Para aqueles que a ficha do bom senso não caiu, pós-tudo, não cai mais. Mentes intoxicadas pelo neofascismo são como birutas de aeroporto, giram feito pião. Se possuem fuzis, atiram na esperança por ignorância. À noite, dormem com o cruel inimigo da memória coletiva – sem sonhar.
O olhar de um estrangeiro como o do maior pensador contemporâneo, o linguista Noam Chomsky, ajuda a entender os descalabros perpetrados: “Raramente vi um país onde elementos da elite têm tanto desprezo e ódio pelos pobres e pelo povo trabalhador…. O avanço das privatizações significa uma transferência de poder da esfera pública para a esfera privada, que não tem obrigação social de beneficiar a população. A privatização dos Correios é mais um passo na destruição da nação” (TV 247, 30/08/2021). Com certeza.
Houve tempos de despolitização e judicialização da política. Com o bolsonarismo, o problema é a militarização da política. São mais de dez mil militares pendurados no aparelho de Estado. “Que os militares babem às ordens de Bolsonaro, entende-se: ele os comprou a preços de Camelódromo”, apontou o dedo Ruy Castro (Folha de S. Paulo, 24/02/2021).
Sair às ruas em Sete de Setembro significa apostar a participação na política, passaporte civilizacional para o futuro. Lutadoras / lutadores sociais são agentes necessários às mudanças progressistas na sociedade. Como no poema brechtiano, “imprescindíveis” para conter o projeto de destruição neofascista da moral libertária e, neoliberal, dos costumes de solidariedade. Para, com nosso braço vacinado, construir um novo Brasil em que a Casa Grande e a Senzala deem lugar ao Bem Comum. Um país mais igualitário. E alegre.
Luiz Marques é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Doutor pelo Institut D’Études Politiques de Paris (Sciences Po) e ex-Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (governo Olívio Dutra)