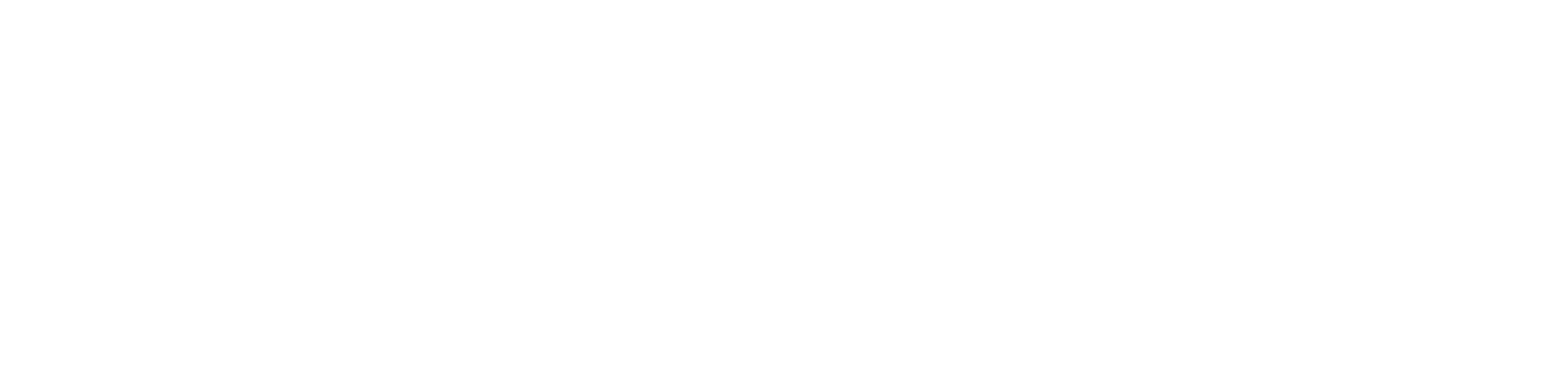Nós e os outros! Decotelli e as contradições de quem o defende – Marcos Rezende
Há séculos, os doutores eram os formados em medicina, direito e engenharia e esses eram os arquitetos do racismo que estruturou o Brasil costado sobre sangue e suor do povo negro.
Publicado em

Assusta-me ver tantos textos de elogios e ações de generosidade a Decotelli, o ministro da Educação de Bolsonaro que já não é mais ministro da Educação. Assusta-me observar que parece bastar ter pele preta. E mesmo que tais pessoas pretas não acreditem no existência do privilégio branco – e, além disso, sistematicamente desconstruam o debate de raça, do racismo, da branquitide e dos privilégios dessa branquitude – soa que isso ainda é pouco e seguem recebendo apoio de alguns. Pois tais negros seguem a receber textos e mais textos de solidariedade de membros da comunidade negra nas redes sociais.
E eis então que as contradições pululam tal qual raios de sol que adentram as frestas de pessoas que gostam de likes e de seguidores e que, por vezes, parecem não refletir para além da notícia diária ou por amor às jabuticabas – frutinhas pretas por fora e brancas por dentro.
O episódio Decotelli traz à tona alguns elementos que precisam ser desnudados.
Exposto na sala de jantar, na hora do jantar servido e com todas as pessoas à mesa.
A academia, os títulos universitários como legitimação do saber, dentre outros.
Há séculos, os doutores eram os formados em medicina, direito e engenharia e esses eram os arquitetos do racismo que estruturou o Brasil costado sobre sangue e suor do povo negro. Eram arquitetos brancos subjugando e subtraindo conhecimentos e salários dos mestres de obras, apontadores, pedreiros e ajudantes diversos. Os advogados e demais operadores do direito utilizando a dubiedade das leis para desumanizar, aprisionar, açoitar e matar os corpos negros de todas as idades e agora os mais jovens e sadios.
Os médicos brancos a cometer todo tipo de violência contra os corpos negros sob a batuta da teoria da resistência à dor, enquanto faziam testes para vacinas nessas cobaias humanas, praticavam violência obstétrica e também ‘guetizavam’ e culpabilizavam a população negra por terem sido deixados à própria sorte em distritos sanitários insalubres e, daí, eram esses corpos os acusados de propagar doenças e moléstias.
Em geral, eram pessoas dessas mesmas profissões, somadas a algumas poucas outras que ocupavam cargos eletivos em todas as instâncias e formulavam leis ou melhor, cagavam regras. Regras essas que se somavam a outras, à época denominadas de científicas, a exemplo da eugenia, que até os dias atuais impuseram essa triste e decadente realidade para a população negra que representa mais da metade do país.
Essa elite branca com todo o suporte acadêmico, legal, econômico, moral e dos “bons costumes” conseguiu arregimentar uma minoria negra para fazer algumas das tarefas mais venais. Os capitães do mato, o negro ‘sim sinhô’, o de alma branca, os vendilhões da raça. Estes sempre se fizeram presentes e isso me lembra trecho da poesia de Solano Trindade que diz: “Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos”.
Mas parece que algumas pessoas gostam de romantizar a negritude. Dessa romantização, fica a impressão de que todo negro pode virar irmão e todo branco será sempre inimigo. Ou pior: se um negro a serviço dos brancos sofre um revés, ele vira o nosso amigo, mas, se outros negros lutam para disputar a sua opinião, aí esse que o faz é o traidor.
A sensação lembra alguns dos pensamentos de Franz Fannon e de como ainda precisamos descolonizar as nossas mentes.
Fico a imaginar o corpo negro que, ao querer ser aceito pelos brancos que estão ao seu redor, busca a copiar tudo, inclusive as suas mentiras e, cego por acreditar ter se tornado igual, acha que terá o mesmo direito que os brancos ao vociferar títulos que não possui crendo que será tratado como os outros. Alguém deveria lembrar a ele que nós não somos os outros.
Aliás, o nós, o negro constituído em bases comunitárias orgânicas, que sabe a importância da concepção identitária coletiva, se opõe à ideia meritocrática e jamais se alia a governos com características fascistas, racistas, autoritárias e genocidas. Pois sabe que o seu povo, esse da pele preta, é o que sempre paga o preço de crimes, ainda que não os tenha cometido.
Já dizia Caetano, na canção Ilê de Luz: “Negro sempre é vilão! Até meu bem provar que não, que não. É racismo meu? Não.”
Por exemplo, lutar para trazer os policiais – essa classe operária formada por negros que enxergam nesse tipo de concurso público uma possibilidade única de estabilidade social e que por conta disso mata, morre e é explorado para defender o patrimônio dos brancos – não pode. E, inclusive, é gesto de traição e capitulação, para alguns.
Mas defender um único homem negro que é militar da reserva e prestigiado pelos almirantes da Marinha, tradicionalmente a sucursal mais racista das Forças Armadas ao longo de toda a história mundial e também aqui no Brasil (basta dar uma lida na história de João Cândido para compreender o que falo), ah, isso pode sim.
No entanto, defender a candidatura da Major Denice Santiago – uma mulher negra e periférica que passou a vida estabelecendo contrapontos à forma como a corporação está adoecida e sobre a questão do racismo e violência, fundou a Ronda Maria da Penha, além de defender dissertação de mestrado sobre o racismo na abordagem policial – não pode.
Creio, ao ler textos sobre Decotelli, Sérgio Camargo e afins que ainda teremos que andar algumas léguas para sabermos diferenciar o nosso lado da história, porque a síndrome de Estocolmo tem feito muitos negros e negras terem, além de mentes academizadas e colonizadas, um tanto de zelo e admiração pelos mais terríveis algozes.
Marcos Rezende é Ogan, historiador, ativista do movimento negro brasileiro, mestre em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social pela Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e membro da Direção da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT