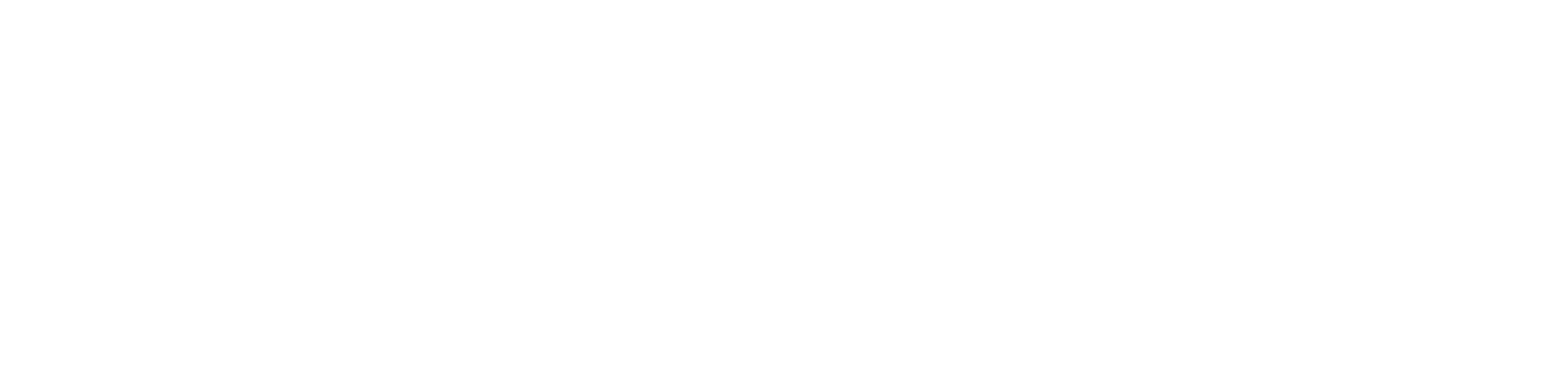8 de março: o que está na agenda pública para as mulheres brasileiras?
Artigo assinado por Por Carolina Costa Ferreira, Maria Eduarda Silva, Sthefani Lara e Roberta N. Alexandre destacam os principais temas relacionados às mulheres no terreno jurídico, político e social
Publicado em
O ano de 2022 chega ao seu terceiro mês e apresenta uma agenda pública de desafios para as mulheres brasileiras: no Legislativo, as eleições nos provocam a discutir sobre a participação de mulheres na política e a importância das candidaturas femininas nos pleitos de todo o Brasil; no Judiciário, a perspectiva de gênero ganha espaço como uma forma de promoção da igualdade no momento da elaboração de diversas decisões judiciais.
O Conselho Nacional de Justiça lançou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que tem por objetivo auxiliar o Poder Judiciário a estabelecer diretrizes de atuação alinhadas à igualdade constitucional (artigo 3º, IV da Constituição). O protocolo apresenta conceitos fundamentais à atuação de magistrados e magistradas, indicando que a desigualdade de gênero é um fenômeno estrutural e, para combatê-la, todo o sistema de justiça precisa se capacitar e se comprometer com esta luta.
Mas o que é perspectiva de gênero? Segundo o Protocolo do CNJ, perspectiva de gênero significa “julgar com atenção às desigualdades e com a finalidade de neutralizá-las, buscando o alcance de uma igualdade substantiva”. Em outras palavras, a perspectiva de gênero representa um olhar atento às desigualdades de gênero, raça, orientação sexual e classe que permeiam o acesso de mulheres à justiça, em qualquer uma de suas áreas.
Interessante lembrar do conceito de Katherine Bartlett sobre “a pergunta pela mulher”: em qualquer campo da produção jurídica — seja legislativa, judicial ou doutrinária, é fundamental perguntar onde estão as mulheres, se elas participaram da elaboração, da execução de políticas legislativas, políticas públicas; é importante refletir se as mulheres foram ouvidas, se suas manifestações foram consideradas como argumentos válidos, se houve representatividade interseccional.
Segundo Fabiana Severi, Professora de Direito da Faculdade da USP de Ribeirão Preto, as críticas à perspectiva de gênero partem de uma falsa premissa, no sentido de que sua utilização resultaria em uma interpretação do Direito “pró-mulheres”. A professora explica que a compreensão deve ser contrária, e devemos refletir que, diante de um Direito pensado de forma androcêntrica (um exemplo muito didático é pensar nos casos doutrinários em que “Caio”, “Tício” e “Mévio” são iguais apenas entre si, mas não em comparação aos direitos de “Maria”, “Ana” ou “Luísa”). Assim, a perspectiva de gênero auxilia a imparcialidade judicial, com o objetivo de ser uma “lente” segundo a qual podemos ver qualquer conceito ou fenômeno jurídico, sempre atentas às desigualdades estruturantes da sociedade brasileira.
Divulgado o protocolo, o desafio de 2022 consiste em conhecê-lo em todas as suas possibilidades e limitações, assim como apoiar a sua propagação entre as diferentes esferas do sistema de justiça. Sabemos que a incorporação de um protocolo, de diretrizes que dialogam com todo um sistema de proteção a direitos humanos depende de formação, organização coletiva e constante acompanhamento de suas (boas) práticas, a fim de que seu uso seja fortalecido.
Iniciativas como a da Suprema Corte Argentina de catalogar as decisões com perspectiva de gênero e torná-las públicas e mais acessíveis por meio de um Compêndio de Jurisprudência sobre Gênero são esperadas e devem ser incentivadas em todos os tribunais do Brasil, assim como o cumprimento da Resolução nº 418, de 20 de setembro de 2021, a qual institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, com inúmeras medidas, dentre as quais a criação de “repositórios online para o cadastramento de dados de mulheres juristas com expertise nas diferentes áreas do Direito”. Assim, o olhar com perspectiva de gênero, no Poder Judiciário, tem sido incentivado interna e institucionalmente, tanto na reflexão e na produção sobre decisões judiciais quanto nas ações de formação e aprimoramento.
Em meio às diversas pautas que tratam da necessidade de promoção da igualdade de gênero, no Brasil, reconhecemos uma excepcionalidade deste 8 de março que diz respeito ao cenário político de 2022, tendo em vista as eleições gerais que ocorrerão em outubro. Neste contexto, chama-nos a atenção a ainda baixa representatividade feminina no cenário político brasileiro, levando-se em consideração os debates e pesquisas acerca das eleições que se avizinham.
Aqui, considera-se como representatividade os interesses de um determinado grupo sendo manifestado pelo representante político e, consequentemente, como o instrumento de construção de subjetividade e identidade dos grupos e indivíduos que integram o grupo específico [1]. No que interessa ao presente artigo, pensar em mecanismos de representatividade significa projetar mulheres lutando pelos seus direitos e na/pela construção da identidade das mulheres em suas diversas realidades, levando-se em consideração não só gênero, como ainda classe e raça, em suas interseccionalidades [2].
Em uma tentativa de resposta à desigualdade política de gênero e de atendimento ao fundamento do pluralismo político previsto no artigo 1º da Constituição Federal, a legislação eleitoral brasileira tem ampliado a participação e o papel das mulheres, por meio da determinação de regras como a porcentagem de repasse de fundo partidário para candidaturas femininas, a instituição de cotas de vagas em partidos políticos e a obrigatoriedade de espaço da propaganda partidária para mulheres [3]. Porém, ainda estamos distantes da efetiva integração das mulheres em suas diversas realidades.
Importante registrar que, segundo informações da Câmara dos Deputados, o atual Congresso Nacional possui apenas 15% de integrantes do gênero feminino, perdendo para quase todos os países da América Latina em proporção, e para países explicita e tradicionalmente sexistas, como o Afeganistão.
Além disso, aquelas parlamentares que conseguem romper a barreira da invisibilidade, da falta de financiamento ou das dificuldades na campanha eleitoral e são eleitas, precisam, muitas vezes, lidar com o precário cenário de violência política contra mulheres. A violência política foi recentemente reconhecida como bem jurídico-penal relevante, gerando a hipótese de criminalização por meio da Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, que inseriu o artigo 359-P ao Código Penal, o qual conceitua como violência política as condutas de “restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.
Diante de todos os desafios e as possibilidades abertas às mulheres, os caminhos mencionados nos indicam que 2022 será um ano em que estaremos diante de avanços e de desafios em relação a direitos constitucionalmente assegurados, a políticas públicas, participação social, e arranjos institucionais necessários para que mulheres se sintam parte da democracia.
Portanto, aumentar a participação feminina no campo político, alargando sua representatividade e fomentando o maior interesse público nas pautas de igualdade de gênero revela-se importante fator na agenda das mulheres brasileiras, para assim provocar necessários e importantes avanços na erradicação da desigualdade de gênero.
Carolina Costa Ferreira é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB), professora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e da graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília (Ceub) e advogada do Aragão e Ferraro Advogados.
Maria Eduarda Silva é pós-graduada em Direito Privado pelo Instituto de Direito Público (IDP), graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e em História pela Universidade de Brasília (UnB) e advogada do Aragão e Ferraro Advogados.
Sthefani Lara é mestranda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (Ceub) e em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília (UnB), professora de Direito Industrial na Universidade de Brasília (UnB) e sócia do Aragão e Ferraro Advogados.
Roberta N. Alexandre é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Escola da Magistratura do Distrito Federal (Esma-DF), pós-graduanda em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), graduada em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e advogada do Aragão e Ferraro Advogados.
[1] Para um maior aprofundamento deste conceito, recomendamos a leitura de SABINO, Maria Jordana Costa; LIMA, Patricia Verônica Pinheiro Sales. Igualdade de gênero no exercício do poder. Revista Estudos Feministas, v. 23, n. 3, 2015. Disponível aqui.
[2] Sobre o conceito de interseccionalidade, recomendamos a leitura de GONZÁLEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, ANPOCS, 1984. Disponível aqui.
[3] Segundo o §2º do art. 50-B, § 2º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, com redação incluída pela Lei nº 14.291, de 3 de janeiro de 2022: “Do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres”.
Originalmente publicado na Revista Consultor Jurídico.