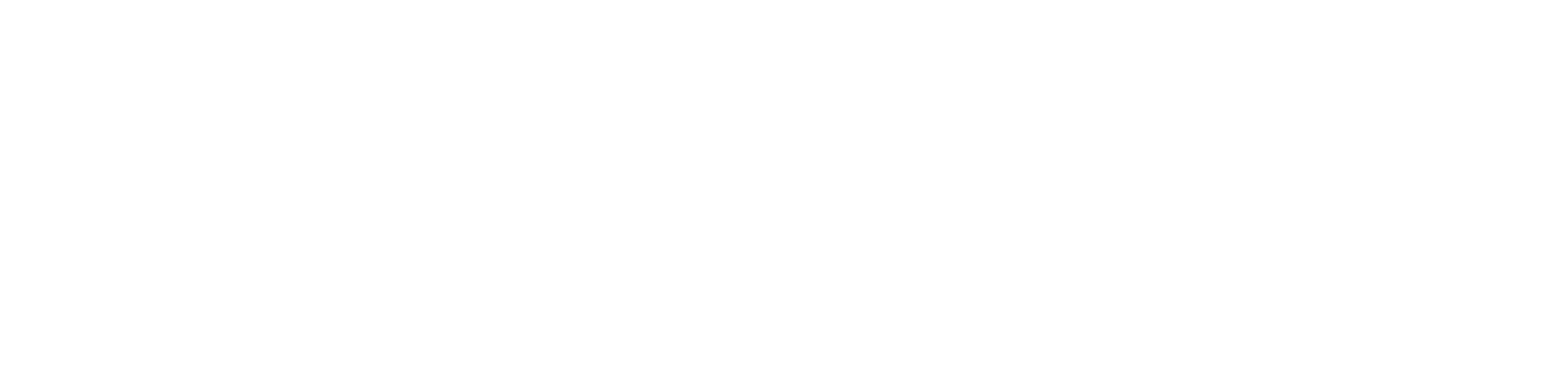O que fazer quando todos sabemos que sabemos que Moro e o MPF foram parciais?
Em artigo publicado em ‘O Livro das Suspeições’, o jurista Lênio Streck desafio o mundo do Direito a repor a verdade e a afastar as suspeitas que pesam contra Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. “Vamos esconder as ilicitudes e praticar um consequencialismo ad hoc? Apegar-nos a um textualismo anacrônico? O que fazer com todas as ilegalidades? Juristas e jornalistas já denunciaram o elenco de elementos que apontam para a quebra da imparcialidade”, denuncia
Publicado em
Lênio Streck
1. A crônica de uma suspeição anunciada: o que é parcialidade?
Benjamin Franklin dizia:
A cada minuto, a cada hora, a cada dia, estamos na encruzilhada, fazendo escolhas. Escolhemos os pensamentos que nos permitimos ter, as paixões que nos permitimos sentir, as ações que nos permitimos fazer. Cada escolha é feita no contexto do sistema de valores que elegemos. Elegendo esse sistema, estamos também fazendo a escolha mais importante de nossas vidas.
Conseguir a declaração judicial de suspeição de um juiz no Brasil é tarefa embebida em extrema dificuldade. O Supremo Tribunal Federal, quando da ocasião do julgamento do HC 955181 — impetrado pelo brilhante Cesar Bitencourt — declarou que, embora comprovado o ato abusivo do magistrado, isso não implicou parcialidade contra o réu. O juiz em questão era, nada mais, nada menos que o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.
Paradoxalmente, nessa mesma decisão, o STF declarou que atua com inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito o juiz que se irroga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional.
Nesse caso em que o STF desenhou o retrato de Moro, esculpindo-o em carrara, não tendo, ademais, poupado adjetivos fortes à conduta abusiva do juiz, não foi declarada a suspeição, uma vez que “o conjunto de atos abusivos, no entanto, ainda que desfavorável ao paciente e devidamente desconstituído pelas instâncias superiores, não implica, necessariamente, parcialidade do magistrado”.
Veja-se. O precedente de então, e que, ao que me consta, não foi superado, é o de que apenas não se declara a suspeição por parcialidade quando as decisões decorrentes de condutas desse jaez são corrigidas por instâncias superiores.
A priori, tal entendimento parece razoável. No entanto, se a conduta abusiva do juiz impregna o conjunto probatório, como se fosse o veneno da tese dos frutos da árvore envenenada, parece evidente que, desde sempre, o processo será nulo. De todo modo, dependerá do exame do caso concreto. Como, aliás, deve ser a análise de um precedente. Nenhum precedente se aplica em abstrato ou automaticamente.
Para ser mais claro: no caso do HC impetrado por Bitencourt, o STF apenas remeteu cópias para a Corregedoria, porque já estavam corrigidos os erros e as diatribes do juiz Moro. Observe-se: já estavam corrigidos os atos do juiz. Agora, a contrario sensu, pode-se deduzir, então, que, se houvesse qualquer prejuízo ao paciente, a nulidade seria declarada pelo Supremo Tribunal.
Portanto, a holding desse precedente do Supremo Tribunal Federal foi que a alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o writ.
Temos então que, segundo o STF, é perfeitamente possível ir além do rol taxativo do artigo 254 do CPP (na contramão, recentemente, o TRF4 decidiu que o rol era absolutamente taxativo, com o que nada podia ser feito).
Hermeneuticamente, registro que essa tese da taxatividade é, com clareza, o resquício da corrente textualista na interpretação brasileira. Por ela, por exemplo, o caso Brown vs. Board of Education of Topeka (de 1954) teria sido julgado no sentido da continuidade da separação racial entre crianças (aliás, o ex-textualista Adrian Vermeule, professor de Harvard, diz que, pelo textualismo, a discriminação deveria continuar).
Vamos a um exemplo: o juiz pode esculachar o réu, cometer abusos (como o fez o juiz Moro no HC mencionado), mas, se ele não é “inimigo capital”, nem parente, nem cônjuge, sócio etc., não haverá parcialidade. É a tese da taxatividade.
Temos de saber, então, qual é a jurisprudência que vale:
a) a que sustenta que é possível examinar a parcialidade em sede de Habeas Corpus quando há prova pré-constituída (elementos objetivos);
b) a que sustenta que “a arguição de suspeição do juiz é destinada à tutela de uma característica inerente à jurisdição, que é a sua imparcialidade, sem a qual se configura a ofensa ao devido processo legal” (STJ no HC 172.819/MG);
c) a que assegura que “(a Constituição Federal prevê uma) garantia processual que circunscreve o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e possibilita às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido”.
Ou vale a jurisprudência que:
d) se apega a um textualismo ingênuo e ultrapassado (algo como propugnava Adrian Vermeule até há pouco tempo), sustentando que o rol do artigo 254 é taxativo, com o que a parcialidade acaba ficando de fora ou se constituindo quase que em uma “prova diabólica”?
Eis a questão: valem “a”, “b” e “c”, lidos separadamente ou conjuntamente, ou vale a alternativa “d”?
Ora,
I) uma coisa é dizer que, no artigo 254, estão elencadas hipóteses de afastamento do juiz;
II) outra coisa é dizer que o dispositivo elenca (tod)as hipóteses de afastamento.
Veja-se que se trata de uma regra. E onde está o princípio? Ou a imparcialidade não é um princípio? Não encontrei quem dissesse que não. Consequentemente, a resposta deveria ser óbvia.
De saída, o próprio texto da lei tem lá suas idiossincrasias. Como a parcialidade não está elencada, entendem parte da doutrina e jurisprudência (dominantes?) que, fora das hipóteses (taxativas) do artigo 254, a parte não conseguirá demonstrar a suspeição. Não há algo errado nisso?
Se a tese da taxatividade do rol do artigo 254 for vitoriosa, então sequer poderemos cumprir os ditames do Tribunal Interamericano, que diz que é garantia do acusado ser julgado por um tribunal imparcial. Assim, por aqui, se não enquadrarmos nenhum ato do juiz ou do tribunal naquele rol taxativo, mesmo que o juiz tenha sido parcial até as grimpas, nada acontecerá. Ou minha leitura é equivocada?
Vamos a um exemplo: o juiz pode esculachar o réu, cometer abusos (como o fez o juiz Moro no HC mencionado), mas, se ele não é “inimigo capital”, nem parente, nem cônjuge, sócio etc., não haverá parcialidade. É a tese da taxatividade.
Ora, o fato de uma atitude do juiz não preencher as “taxativas” hipóteses da lei não quer dizer que não tenha sido parcial.
Deve haver um modo, jurídico, pelo qual nós possamos dizer que não pode ser assim. O “não pode ser assim” – que sintetiza o que chamo de constrangimento epistemológico e encerra o papel da doutrina – está na origem da própria ideia de Direito. Sir Edward Coke disse ao rei absolutista, no século XVII, que não podia ser daquele jeito .
Nem os notórios processualistas que professam o instrumentalismo negam que a imparcialidade seja um princípio (este, de fato, preenche todos os requisitos exigidos de um princípio). Consequentemente, o artigo 254 deve ser lido a partir da iluminação deontológica do princípio da imparcialidade, previsto, aliás, nas convenções e tratados assinados pelo Brasil de há muito. Por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica — 1969, artigo 8º, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que vê o problema da seguinte maneira: exige-se não só a imparcialidade; exige-se a aparência de justiça. A tese é: “Justice must not only be done; it must also be seen to be done”.
Veja-se que, passado mais de um ano da divulgação dos diálogos entre procuradores da “Lava Jato” e o ex-juiz Sérgio Moro, algumas questões deve(ria)m estar consensuadas:
– Primeiro, que as conversas configuram relações promíscuas e ilegais entre juiz e membros do Ministério Público;
– Segundo, houve a violação de comezinhos princípios éticos e jurídicos acerca do devido processo legal;
– Terceiro, ficou claro que a defesa foi feita “de trouxa” pelo juiz e pelo MP, porque combinaram esquema tático sem que ela imaginasse o que estava ocorrendo (a defesa pediu várias vezes a suspeição do juiz);
– Quarto, o juiz visivelmente atuou na acusação, violando o princípio acusatório e a imparcialidade; o juiz Moro chegou a sugerir a oitiva de uma testemunha e cobrou mais operações policiais; como diz o jornalista Ranier Bragon, as conversas não dão margem a dúvida: o juiz tomou lado .
– Quinto, o conteúdo dos diálogos não foi negado (falarei na sequência sobre sua (i)licitude).
Por evidente, se isso não é parcialidade, tanto do juiz como do Ministério Público, então teremos que trocar o nome das coisas. Simples assim. Podem Dallagnol e Moro tentar (se) explicar. Mas a rosa não perde seu perfume se a chamarmos de cravo, como na peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare.
Fosse na Alemanha, os protagonistas estariam sujeitos ao artigo 339 do Código Penal, aqui traduzido livremente (chama-se de Rechtsbeugung- prevaricação): Direcionar juiz, promotor ou qualquer outro funcionário público ou juiz arbitral o Direito para decidir com parcialidade contra qualquer uma das partes. Pena: detenção de 1 a 5 anos, e multa.
Por evidente, se isso não é parcialidade, tanto do juiz como do Ministério Público, então teremos que trocar o nome das coisas. Simples assim. Podem Dallagnol e Moro tentar (se) explicar. Mas a rosa não perde seu perfume se a chamarmos de cravo, como na peça ‘Romeu e Julieta’, de William Shakespeare
Sigo. Vamos a algumas explicações. Como garantista, admito que os diálogos sejam frutos de prova ilícita (hackeamento), questão até agora não esclarecida. Então o Procurador Dallagnol e os demais ficam livres de processo judicial, porque contra eles não se pode usar a prova. Portanto, é consenso no Direito brasileiro que ninguém pode ser condenado com base em prova ilícita. Porém, também é consenso o réu poder ser beneficiado por ela.
Explico: À época dos vazamentos, no calor dos acontecimentos, expliquei para vários sites e rádios essa questão, lembrando um exemplo de meu professor de processo penal, nos anos 70: se uma carta for aberta criminosamente (violação de correspondência) e nela se descobrir que um inocente está pagando por um culpado, o inocente poderá se beneficiar dessa prova ilícita. Tenho isso muito claro. Mas, por garantia, encaminho os leitores para o comentário de Araken de Assis e Carlos A. Molinaro ao artigo 5, LVI, da CF, no livro Comentários à Constituição do Brasil .
Registro, ainda, que, na opinião do perito Fabio Malini, professor do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), dificilmente os diálogos divulgados são produto de hackeamento. Para ele, a causa pode ter sido algo simples: descuido dos usuários. O professor-perito lembra, ainda, que os fatos indicam que não foi ativado o modo de destruição das mensagens do Telegram.
Enfim, quando todos dizem que foi hackeamento, pode tudo isso, todavia, ser produto de vazamento interno. Nestas alturas, em termos de garantias, Dallagnol deve estar torcendo que seja hackeamento, porque essa prova não pode ser usada, juridicamente, contra ele e os demais.
2. Tudo o que o juiz Sérgio Moro fez: a parcialidade esculpida em carrara!
Despiciendo relembrar os “feitos” do juiz Moro, como o vazamento dos diálogos entre a ex-Presidente Dilma e o ex-Presidente Lula. E depois o pedido de desculpas em mais de 30 laudas assinado pelo juiz.
Sempre há mais coisas. Como o artigo do jornalista Guilherme Amado, no site da revista Época, registrando aquilo que já havia sido divulgado por parte da mídia. Trata-se da entrevista do Ministro Gilmar Mendes concedida aos jornalistas Kelly Mattos, David Coimbra e Luciano Potter, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Na entrevista, Gilmar Mendes acusou Sérgio Moro de “vazar propositalmente” a delação do ex-ministro da Fazenda do governo Lula Antônio Palocci no segundo turno das eleições de 2018, quando ainda era juiz, “com o propósito de favorecer” a eleição do atual presidente da República. Textualmente: o juiz “estava muito próximo desse movimento político, tanto que no segundo turno ele faz aquele vazamento da delação do Palocci; a quem interessava isso? Ao adversário […]”.
Disse ainda o Ministro do STF: “Depois, ele aceita o convite, que é muito criticado, para ser ministro deste governo […], cujo adversário ele tinha prendido. Ficou uma situação muito delicada, se discute a correição ética desse gesto”. Havia intenção política de Moro (e, portanto, estava sendo parcial)? Bem, neste caso, respondeu o ministro que lhe “bastam os fatos” e que o “vazamento desta delação naquele momento tinha o intuito que se pode atribuir”.
O mesmo vazamento da delação de Palocci foi duramente criticado pelo jornalista Élio Gaspari, da Folha de S.Paulo: “A ‘bala de prata’ feriu Moro: a publicidade de um pedaço da confissão seletiva de Antônio Palocci ofendeu a neutralidade do Poder Judiciário”. Afirma o autor que,
se era bala de prata, o teor da colaboração do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci tornou-se um atentado à neutralidade do Poder Judiciário; (…) foi uma ofensa à neutralidade da Justiça porque o juiz Sérgio Moro deu o tiro seis dias antes do primeiro turno da eleição presidencial”. O Jornal O Globo chegou a fazer um editorial sobre esse vazamento, dizendo que “A divulga- ção do depoimento de Palocci atesta ‘objetivos eleitorais.
Em 2019, depois das revelações do Intercept, advogados, juristas, ex-ministros da Justiça e ex-membros de Cortes Superiores de Justiça de vários países fizeram um manifesto dirigido ao Supremo Tribunal Federal e, mais amplamente, à opinião pública do Brasil para os graves vícios dos processos movidos especialmente contra o ex-Presidente Lula
Some-se a tudo isso os diálogos apresentados pelo Intercept e temos uma tempestade perfeita.
A questão transcende em muito as fronteiras brasileiras. Em 2019, depois das revelações do Intercept, advogados, juristas, ex-ministros da Justiça e ex-membros de Cortes Superiores de Justiça de vários países fizeram um manifesto dirigido ao Supremo Tribunal Federal e, mais amplamente, à opinião pública do Brasil para os graves vícios dos processos movidos especialmente contra o ex-Presidente Lula. Em uma parte do manifesto, lê-se: “Não há Estado de Direito sem respeito ao devido processo legal. E não há respeito ao devido processo legal quando um juiz não é imparcial, mas atua como chefe da acusação”.
3. A falta de isenção do Ministério Público que transitou em julgado
Aproveito para lembrar, também, que fui o primeiro e único (ao que sei) que avisou que o item 9 do acórdão que condenou o ex-presidente Lula continha algo muito estranho: “Não é razoável exigir-se isenção dos Procuradores da República, que promovem a ação penal. A construção de uma tese acusatória – procedente ou não –, ainda que possa gerar desconforto ao acusado, não contamina a atuação ministerial. (TRF-4 – ACR: 50465129420164047000 PR 5046512-94.2016.4.04.7000)”.
O texto é claro e transitou em julgado. O TRF4 deixou assentado que o Ministério Público pode agir sem isenção.
Portanto, o sistema de justiça brasileiro está em uma encruzilhada. Os fins justificam os meios? O procurador Dallagnol, em vídeo, diz que não. Mas, lendo os diálogos, a prática do MPF no caso mostra claramente que, sim, os fins justifica(ra)m os meios. De uma vez por todas: um juiz não se associa com o órgão acusador.
Imaginemos o contrário: o vazamento de conversas do juiz com o advogado de defesa e depois o réu é absolvido. O que seria isso? O escândalo estaria formado. Mas como é conversa de juiz com o MP, isso é visto como “normal”, como sustentam Dallagnol e Moro. Como o sistema de justiça reagirá a isso?
Segundo o procurador Dallagnol, não há parcialidade, uma vez que “54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro”. Essa é a prova de imparcialidade? Primeiro, isso não significa nada. Segundo, e concedendo para fins de argumentação que signifique, da (im)parcialidade em x processos não se deriva (im)parcialidade em y processos. Simples.
Além do mais, veja-se que, nos diálogos entre os procuradores, Dallagnol admite a fragilidade da prova do caso do tríplex. Admite também que a prova é indireta, citando a mim e a Reinaldo Azevedo:
Ainda, como a prova é indireta, ‘juristas’ como Lenio Streck e Reinaldo Azevedo falam de falta de provas. Creio que isso vai passar só quando eventualmente a página for virada para a próxima fase, com o eventual recebimento da denúncia, em que talvez caiba, se entender pertinente no contexto da decisão, abordar esses pontos.
Vamos ao ponto. Tenho esse hábito de chamar as coisas pelos seus nomes. Diferentemente do imaginário Lava Jato, que não sabe diferenciar juiz e parte, eu sei que não existe linguagem privada. Não adianta tentar criar uma novilíngua exclusiva da Operação Lava Jato: os critérios para atribuição de significado e sentido são externos. Linguagem pública (Wittgenstein). Quando falta prova, falta prova. E haverá juristas, com aspas ou sem aspas, para dizerem que falta prova.
O que veio a público com as matérias do Intercept Brasil é nada mais que aquilo que já vinha denunciando há muito, trazido às claras por um modo não ortodoxo. O que ficou claro é que a Força-Tarefa da Lava Jato, sob o pretexto da luta contra a corrupção, trocou o Direito pela Política. Na espécie, os procuradores ignoraram as lições mais elementares que qualquer aluno de graduação aprende em Introdução ao Direito. Eles, juntamente com o juiz Moro, colocaram-se acima do Estado de Direito. Atropelaram garantias, atropelaram a Constituição, atropelaram a lei. E vejam, a crítica que aqui faço é muito provavelmente a mais fácil que já tive de escrever. Está tudo ali. Escrito. E o que está escrito importa, por mais que se neguem as evidências. A propósito, lembro-me dos meus tempos de Promotor de Justiça, na minha primeira Comarca, nos confins do Rio Grande do Sul. Um cidadão foi acusado de ter furtado um porco. No depoimento à autoridade policial, confirmou que, efetivamente, vinha carregando o porco nas costas. Indagado sobre o que fazia o porco na sua “cacunda”, o réu respondeu: “Qual porco? Ah, esse que colocaram nas minhas costas?”. Na especificidade, o réu não se ajudou muito. Como no episódio do furto do porco e da “versão exculpante” do indiciado, as explicações de Moro e da Força-Tarefa desafiam a luz solar.
O que veio a público com as matérias do Intercept Brasil é nada mais que aquilo que já vinha denunciando há muito, trazido às claras por um modo não ortodoxo. O que ficou claro é que a Força-Tarefa da Lava Jato, sob o pretexto da luta contra a corrupção, trocou o Direito pela Política
Ademais, recordo-me de que Dallagnol e Moro não podem se queixar, uma vez que o primeiro defendeu com ardor o pacote das 10 medidas, em que constou que notícias anônimas podem ser usadas para iniciar investigação, porque o que importa é “levar atos corruptos ao conhecimento do cidadão” (veja-se: eu não concordo com isso; quem diz isso é Dallagnol). Esse ponto é bem lembrado pelo advogado Gamil Hireche. Perfeito. Aqui, no caso, nem há anonimato, pois não? As mensagens do Intercept não são indícios?
Já Moro sempre disse que ninguém está acima da lei e, no programa do jornalista Bial, justificou o vazamento das conversas de Lula com Dilma deste modo: “O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que era uma ação visando burlar a justiça. Este era o ponto”. Pois é. Uma clara confissão. Na novilíngua de Moro, o vazamento ilícito de escutas possui outro nome: “divulgação do diálogo”.
4. À guisa de proto-conclusão!
Tudo muito simples, pois não? E por que, ainda com todos esses elementos, parte da comunidade jurídica aplaude as ilicitudes? A resposta pode ser esta: por causa do tipo de ensino jurídico e do desprezo dessa parcela de pessoas por aquilo que lhe dá sustento: o Direito. Fossem médicos, fariam passeata contra os antibióticos e o uso do raio laser nas cirurgias. Motivo: salva muita gente.
O sintoma: Precisava mesmo de tudo isso, de todo esse tempo para que a explosão acontecesse? Precisava que viesse o jornalista Glenn Greenwald jogar isso na nossa cara para que acordássemos como comunidade jurídica? Já estava tudo ali. Talvez não estivesse dito, mas o não dito já existia. A paralipse já tinha ficado muito clara naquele Power Point do Dallagnol.
Mas que seja. Que tenhamos coragem de, finalmente, encarar as coisas como elas são e chamá-las pelos nomes que elas têm.
Nossas respostas decidirão o futuro do Direito no Brasil. E, atenção: não esqueçamos que vivemos sob a febre de que temos um sistema de precedentes. Pois se ficar decidido que qualquer juiz que fez (ou faça) tudo o que fez o então juiz Sérgio Moro é um “juiz normal e legal”, então, pelo precedente que daí exsurgirá, todos os juízes poderão fazer o mesmo. E os membros do Ministério Público também poderão fazer o mesmo que Dallagnol. Eis a escolha: Estado de Direito ou Estado à margem do Direito.
Vamos esconder as ilicitudes e praticar um consequencialismo ad hoc? Apegar-nos a um textualismo anacrônico? O que fazer com todas as ilegalidades? Juristas e jornalistas já denunciaram o elenco de elementos que apontam para a quebra da imparcialidade.
Pois se ficar decidido que qualquer juiz que fez (ou faça) tudo o que fez o então juiz Sérgio Moro é um “juiz normal e legal”, então, pelo precedente que daí exsurgirá, todos os juízes poderão fazer o mesmo. E os membros do Ministério Público também poderão fazer o mesmo que Dallagnol. Eis a escolha: Estado de Direito ou Estado à margem do Direito
Este é o ponto. No depoimento ao Senado, questionado pelo senador Kajuru, Moro chegou a dizer que a indicação de uma testemunha a Dallagnol tinha sido uma notitia criminis enviada via mensagem (repasse de notitia criminis). Dizer o que sobre isso? De novo, vem a metáfora do depoimento do indivíduo que furtou um porco – relatado retro –, carregando-o às costas. Quem teria colocado esse suíno nas suas espaldas? Dito de outro modo, é a primeira vez que um juiz faz notitia criminis via mensagem de telefone para o próprio órgão acusador que iria se beneficiar desse depoimento. Isso é normal?
Enfim, comecei e termino com Benjamin Franklin: estamos fazendo a escolha mais importante de nossas vidas. Dela depende o futuro do Direito.
Mas há ainda um espaço para uma palavra: processo é garantia. E não instrumento. Logo, o devido processo legal traz ínsita a exigência de imparcialidade, de fairness (equanimidade).
Vou (me) repetir, ressaltando que não é demais lembrar o modo como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vê o problema: ele exige não só a imparcialidade; ele exige a aparência de justiça. A tese é: “Justice must not only be done; it must also be seen to be done”.
Observe-se: a Constituição já é a maior demonstração do conceito de imparcialidade. Sabem como? Se a Constituição é um remédio contra maiorias — e o é — isso já quer dizer que cumpri-la é um gesto imparcial, porque a decisão será contra as eríneas (da peça As Eumênidas!), contra as sereias (e seu canto) portadoras do senso comum, pelo qual os fins justificam os meios.
Ou seja, a Constituição do Brasil e o Tribunal Europeu dos Direitos Hymanos abominam o modelo “juiz Larsen” (caso Hauschildt vs. Áustria) — esse juiz (Larsen) prejulgava e aplicava sua opinião independentemente do caso concreto.
Bom, então qual é o slogan? Simples: o juiz descobre que havia tortura no forte e fica num dilema: o que fazer agora que sabe? Eis a pergunta: o que a comunidade jurídica e o STF farão, agora que sabem que sabem tudo sobre Moro?
Lanço, aqui, um slogan sobre o comportamento do juiz Moro. Tiro do livro A espera dos bárbaros, de Coetzee. O personagem narrador é um juiz.
Bom, então qual é o slogan? Simples: o juiz descobre que havia tortura no forte e fica num dilema: o que fazer agora que sabe?
Eis a pergunta: o que a comunidade jurídica e o STF farão, agora que sabem que sabem tudo sobre Moro?
Como disse o juiz-narrador do romance de Coetzee:
De forma que agora parece que meus anos de sossego estão chegando ao fim, quando eu poderia dormir com o coração tranquilo, sabendo que com um cutucão aqui e um toque ali o mundo continuaria firme em seu curso. Só que, mas, ai! eu não fui embora: durante algum tempo tapei os ouvidos para os ruídos que vinham da cabana junto ao celeiro onde guardam as ferramentas, depois, à noite, peguei uma lanterna e fui ver por mim mesmo.
Torturavam. E agora, pensa o juiz, o que fazer?
Agora ele sabe… Sabe que sabe! Não dá para tapar os ouvidos.
Até a afilhada (renegada) do ex-juiz e ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro, a deputada Zambelli, já disse que sabe que sabe o que Moro fez…!
Publicado originalmente em ‘O Livro das Suspeições’, lançado pelo grupo Prerrogativas.