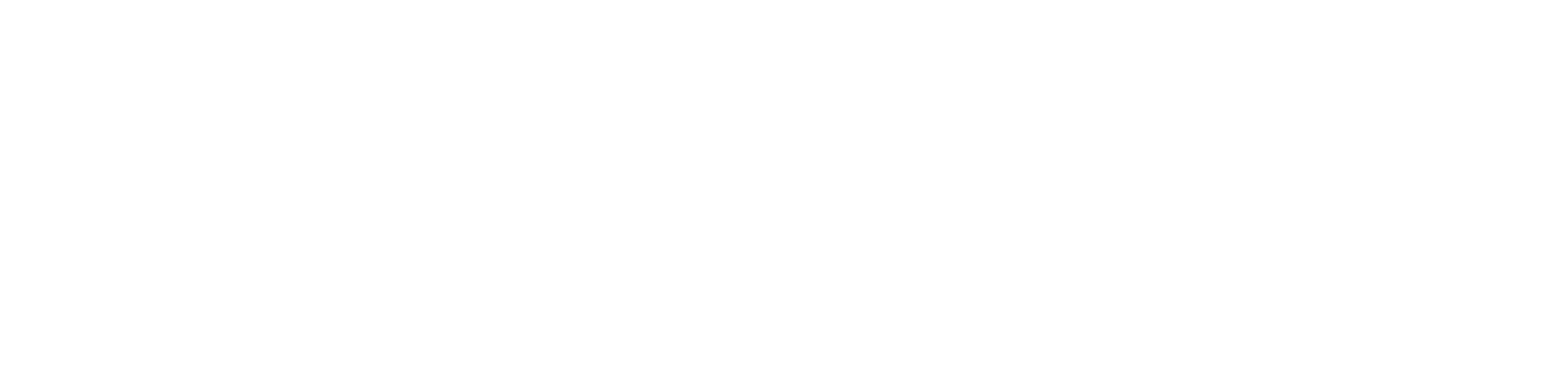“O social foi assassinado pelo neoliberalismo e relegado a mero efeito de goteira”
Em entrevista ao jornal ‘El País’, Bertrand Badie, especialista em relações internacionais, afirma que a crise desatada pela pandemia do coronavirus está evidenciando de forma dolorosa a verdadeira face da globalização. “Os profetas do neoliberalismo viraram promotores da economia social. É preciso voltar aos imperativos sociais”, afirma
Publicado em
Que um vírus originado em um mercado de Wuhan tenha se espalhado pelos cinco continentes em apenas algumas semanas, causando uma das crises sanitárias mais graves da história da humanidade não surpreende Bertrand Badie, um dos maiores especialistas franceses da globalização.
O cientista político de 69 anos, professor emérito no Science Po (Instituto de Estudos Políticos de Paris) e pesquisador associado ao Centro de Estudos e Pesquisas Internacionais (CERI), há décadas defende que a ação individual de um dos 6 bilhões de habitantes do planeta pode ser mais importante do que a decisão de qualquer Governo. Em um “mundo único” em que as fronteiras já não impedem que o que acontece em um país tenha efeitos imediatos nos outros, onde a interdependência entre os diferentes setores de atividade humana jamais havia sido tão importante e a mobilidade, tanto humana como de mercadorias, tão veloz, “um aperto de mãos em Wuhan” pode colocar em xeque toda a humanidade, afirma.
Por isso, o autor do recente ensaio L’Hégémonie Contestée acha que a crise atual precisa abrir nossos olhos para a importância da dimensão social da mundialização, abandonando o dogma neoliberal que se limita a conceber o ser humano como um simples ator econômico para abraçar um multilateralismo inclusivo.
Pergunta. Acha que a pandemia do coronavírus revelou o verdadeiro rosto da globalização?
Bertrand Badie. Penso que, até essa crise, a opinião pública e, o que é ainda mais surpreendente, os dirigentes dos diferentes países do mundo ignoravam e pretendiam ignorar o que esse fenômeno realmente significa. A mundialização muda profundamente o próprio significado da alteridade. O outro, em nosso antigo sistema westfaliano, era o inimigo potencial; depois, com o livre comércio e a aceleração das trocas comerciais, o outro se transformou em um competidor, um rival, e não vimos que, no plano social, estava sendo criada outra definição de alteridade, em que o outro era um parceiro cujo destino está profundamente ligado ao nosso. Isso significa que entramos em mundo que já não é o da hostilidade e da competição, e sim necessariamente o da solidariedade, porque agora se quero sobreviver e, ainda mais, ganhar, preciso me assegurar de que o outro sobreviva e que o outro ganhe, e temos muita dificuldade em admitir isso. Essa dificuldade nos levou nesse contexto de crise a escutar idiotices como “é um vírus chinês” e “o vírus é um inimigo do povo americano”, como afirmou o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump não entendeu que o verdadeiro significado da mundialização está na criação de necessidades de integração social que devemos satisfazer urgentemente, do contrário nos encaminharemos ao desastre.
P. O senhor defende que é a fraqueza, e não a força, que rege o mundo globalizado em que vivemos. A que se refere?
BB. Em um mundo inclusivo, interdependente e móvel, é o fraco que decide enquanto o poderoso está perpetuamente em uma posição reativa e defensiva. Devemos levar muito a sério as novas necessidades de segurança humana já que dos segmentos de população mais inseguros, frágeis em termos de saúde, economia, alimentação e condições climáticas, vem necessariamente o risco mais agudo da crise. Não devemos nos esquecer que esse vírus nasceu em um mercado de Wuhan caracterizado por uma grande precariedade sanitária. A vulnerabilidade de nossas sociedades extraordinariamente sofisticadas é, em última instância, bem alta. Entramos em um mundo invertido em que a lógica da fraqueza é a lei. Isso se observa em outros conflitos que ameaçam o planeta como o Sahel, Oriente Médio, a bacia do Congo e o Chifre da África, que continuam sendo áreas de grande fraqueza e que, de certo modo, conformam a agenda internacional.
P. Por que os Estados continuam priorizando o investimento militar para garantir sua segurança, sem se preocupar com os focos de vulnerabilidade que o senhor menciona?
BB. Vivemos durante séculos e séculos com a ideia de que o que nos ameaça e causa nossa insegurança é de natureza militar e interestatal. No mundo de hoje gasta-se por volta de dois trilhões de dólares (10 trilhões de reais) em orçamento militar. Precisamos admitir que essa competição só adula a arrogância dos Estados e não tem nenhuma eficácia em termos humanos. O Programa das Nações Unidas ao Desenvolvimento deixou claro em um relatório de 1994 que a principal ameaça ao mundo era a humana, a alimentar, a sanitária, a ambiental, entre outras, e ninguém, nenhum líder do planeta levou a sério essa advertência, seguindo os incertos caminhos do investimento militar. Se pelo menos essa crise servir para que os dirigentes que até agora não estavam à altura de sua responsabilidade, e que não quiseram ver o que estava diante de seus olhos, levem a sério, então terá servido para algo.
P. O que lhe inspira a guinada keynesiana que de repente impregna o discurso de alguns políticos mais conhecidos por sua orientação liberal como Donald Trump e Emmanuel Macron?
BB. É preciso lembrar que o social foi assassinado pelo neoliberalismo e relegado a um mero efeito de goteira. A famosa fórmula tão elogiada pelo Banco Mundial de que “o crescimento é bom para os pobres” porque acabarão se beneficiando de seus efeitos, reflete a maneira como o social foi concebido nos últimos 30 anos. Se hoje os profetas do neoliberalismo estão se transformando em promotores da economia social é porque concebem, diante da catástrofe atual, que já não será possível fazer o mesmo que antes e que será necessário voltar aos imperativos sociais.
P. Acha que essa mudança social será duradoura?
BB. É muito cedo para saber se irá se manter após a crise ou se as velhas práticas voltarão. Há um sinal de otimismo, entretanto, no fato de que o novo foco dessa direita que se confundia com o ultraliberalismo, responsável pelo desmantelamento dos serviços públicos, foi anterior à crise sanitária. O ano de 2019 foi extremamente turbulento com a proliferação de movimentos sociais em todo o mundo e isso teve consequências. A prova disso é, por exemplo, o tom social adotado por Boris Johnson no Reino Unido durante as últimas eleições legislativas. A ideia de investir em questões sociais praticamente se transformou no slogan do Partido Conservador Britânico. Acho que isso significa que essa redescoberta do social não depende totalmente do medo ao coronavírus, há algo mais, e isso me faz pensar que, aconteça o que acontecer, nunca voltará a ser o mesmo.
Devemos levar muito a sério as novas necessidades de segurança humana
P. A União Europeia está sendo muito criticada por sua incapacidade de proporcionar uma solução comum contra a pandemia da Covid-19…
BB. Essa é, de fato, a grande decepção dessa crise, e talvez o ponto mais obscuro. A Europa esteve até agora, e quero ser muito cuidadoso com minha formulação, em um nível zero de integração. Ou seja, uma incapacidade total, não digo parcial, para dar uma resposta integrada a uma crise que, comparada com todas as que enfrentamos, é exatamente a que precisa de mais solidariedade. Esse fracasso pôde ser observado tanto no plano sanitário, com a ausência de coordenação entre Estados membros —cada Estado faz do seu jeito e frequentemente de maneira contraditória—, como econômico, com um BCE (Banco Central Europeu) cuja primeira ação foi totalmente desastrosa e causou uma espécie de quebra nas Bolsas que poderia ter sido ainda mais considerável.
P. Christine Lagarde corrigiu isso ligeiramente depois, concorda?
BB. É verdade que existiu uma pequena inflexão, em ritmo forçado, mas a verdade é que continuamos sem ter acordo sobre os Eurobônus (ou coronabônus), no meu entendimento, a maior expressão do que se pode fazer juntos para enfrentar a crise financeira que se aproxima no horizonte. O problema é que ainda que consigamos chegar a uma solução comum, o dano já está feito. Estamos vendo o verdadeiro rosto da União Europeia e suas lacunas no plano da solidariedade. Outro aspecto com o qual precisamos nos preocupar é por que não importa qual seja a questão na UE, encontramos essa distância entre o norte e o sul? E isso desde Maastricht. Acabará tendo efeitos catastróficos e podemos até nos perguntar se algum dia acabaremos por ter duas Europas.
P. O que resta da governança global diante da retomada soberanista que estamos vendo nos últimos anos?
BB. A inoperância da Europa é um reflexo do fracasso da governança mundial. A ação da OMS se reduz a ler todas as noites um comunicado em um inglês aproximado para pedir aos Estados que façam alguma coisa, o que é verdadeiramente desastroso quando a OMS deveria ter sido a task force no assunto, o órgão que coordena as políticas de saúde, que organiza a ajuda técnica e médica e, principalmente, que produz normas. O grande perigo é justamente a falta de padrões comuns, e que cada país continue operando por sua conta e à sua maneira.
Há uma necessidade de governança global como nunca em nossa história, e ao mesmo tempo um auge de nacionalismo que não havia sido visto até agora
P. A solução para sair dessa crise está, de acordo com o senhor, em mais multilateralismo e decisões comuns. O mundo atual, entretanto, está cheio de líderes nacionalistas, de Trump, passando por Bolsonaro, a Johnson. É paradoxal, não acha?
BB. Acho que podemos dizer que os planetas nunca estiveram tão mal alinhados. Há uma necessidade de governança local como nunca em nossa história, e ao mesmo tempo um auge de nacionalismo que não havia sido visto até agora. Ambos são inconciliáveis. De modo que a única razão à esperança é que o nacionalismo é uma ideologia vazia que não tem nada a oferecer. Todas as tentativas de gestão estritamente nacional da crise falharam. Líderes como Johnson, Trump e até Bolsonaro, que partiram de premissas nacionalistas, e negacionistas, precisaram mudar seu discurso, cada um a sua maneira. Além disso, o desprezo desses políticos liberais pelos desafios sanitários nos leva a outro ponto essencial que abordei no ensaio L´impuissance de la Puissance, que é a flagrante impotência de um país como os Estados Unidos diante dessa pandemia. A evolução da crise nos EUA é aterrorizante e em parte se deve a essa concepção herdada da Escola de Chicago de total cegueira diante das ameaças e dramas coletivos.
P. Há outras grandes ameaças, como a mudança climática, que requerem uma ação conjunta a curto prazo. Acha que o coronavírus mudará a mentalidade dos políticos mais céticos sobre a necessidade de investir recursos antes que não se possa mais voltar atrás?
BB. Logicamente, esse raciocínio é imparável. Humanamente já é diferente e politicamente, ainda mais. Humanamente, é difícil olhar os dois objetivos ao mesmo tempo ainda que estejam muito ligados, mas politicamente, o fato de que a luta contra o aquecimento global signifique gastos, esforços, sacrifícios a curto prazo para se ter conquistas a longo prazo transforma esse investimento em algo politicamente suspeito. Após essa crise, os Estados terão que investir muito para reconstruir a economia global. Aceitaremos gastar e investir muito pelo clima, ou seja, acrescentar gastos aos gastos? Sou bem pessimista.
P. Sairá algo bom dessa crise?
BB. Sempre há esperança. O próprio de uma crise, aumentar o medo, é o que permite o desenvolvimento da criatividade humana e social. A crise econômica de 1929 que levou os nacionalistas a vencer nas urnas, também inventou o keynesianismo e permitiu que a economia nacional se revitalizasse até a vingança do neoliberalismo nos anos oitenta. Também foram as grandes guerras, e as mais mortíferas, que trouxeram, pelo menos na Europa, invenções absolutamente extraordinárias e que por fim permitiram a resolução de problemas que não poderiam ser resolvidos em contextos de paz e mobilização. Quanto mais forte essa crise for, portanto, mais romperá os esquemas e os círculos viciosos e por isso acho que algo positivo pode sair dela. Quando, como e por quê, não sabemos.
Carla Mascia | El País
Publicado originalmente no jornal El País.