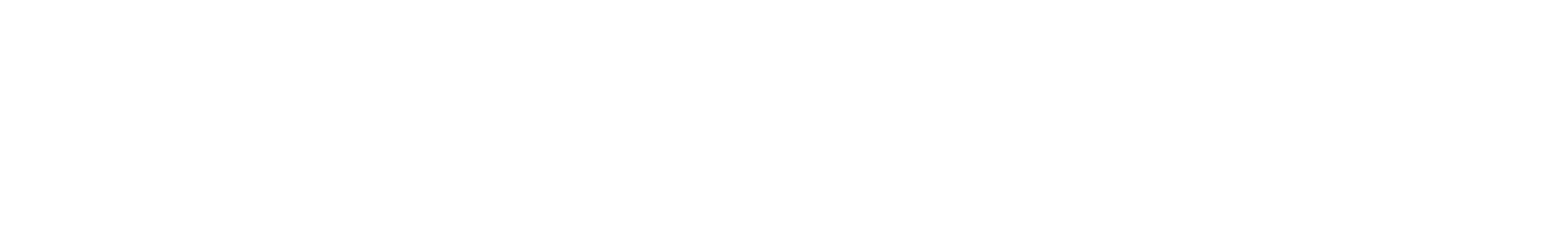Rachel Moreno: “Temos que lutar contra qualquer passo para trás”
Militante e filiada ao PT desde a década de 70, a integrante do Conselho dos Direitos da Mulher avalia momento atual e conquistas do movimento feminista
Publicado em

A psicóloga Rachel Moreno milita pelos direitos da mulher desde 1974, quando se reuniu com outras estudantes da Universidade de São Paulo (USP) para reivindicar a instalação de uma creche pública na instituição. A militância ganhou fôlego nos anos seguintes, sobretudo após se filiar ao Partido dos Trabalhadores na década de 1980. Integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Rachel recordou as ações importante do movimento de mulheres no Brasil, como a organização do Primeiro Congresso da Mulher Paulista, em 1978.
Rachel Moreno crê que o país precisa avançar muito na questão de direitos básicos ainda, que estão cada vez mais sendo cerceados pela direita. “Temos que lutar contra qualquer passo para trás daquilo que o movimento de mulheres conquistou até hoje”, disse ao avaliar recentes projetos de lei apresentados em Brasília.
Leia a entrevista completa:
Qual deve ser a prioridade do movimento feminista no Brasil, sobretudo num momento conturbado politicamente?
Para ser bem sintética: nenhum direito a menos e muitos outros a mais. Estamos ameaçadas agora de perder conquistas dos últimos trinta ou até mesmo quarenta anos. E olha que ainda não chegamos na equidade em termos de trabalho, nem em espaço político ou em termos de discussão da mulher na mídia. Falta muito ainda para avançarmos. A ONU diz que no ritmo que estamos, a nossa igualdade só chegará daqui 70 anos. Não dá para esperar tudo isso.
E quais direitos podem nos ser retirados?
Nós mulheres estamos sendo marcadas passo a passo pela bancada evangélica. Eles têm ações desconcertantes. Eles sugerem de novo a “bolsa estupro”, por exemplo, através do Estatuto do Nascituro (PL 478/2007). Tem um novo relator que vai reapresentar este projeto dizendo que as mulheres terão um dinheiro para criar um filho fruto de um estupro. Há um outro projeto de lei (PL 4.396/2016) que aumenta a pena para mulher que fizer aborto, demandada agora por causa da microcefalia, e conseguiram também barrar em nível federal, estadual e municipal o que chamam de “ideologia de gênero”, que nada mais é discutir no ambiente escolar questões de discriminação sexual e diferença entre homens e mulheres (através do Plano Nacional de Educação). Eles acham que é uma afronta à família brasileira e também estão revendo o Estatuto da Família. Há um novo projeto circulando para dizer que a única família com direito à proteção do Estado é a formada por pai, mãe e filhos. A gente não pode mais discutir na escola essa discriminação, não podemos ocupar isso no ministério feito para discutir essa questão e nem pensar sobre o livre arbítrio sobre o direito sexual e reprodutivo das mulheres porque eles então na frente com o direito do nascituro dizendo que um feto é ainda mais importante.
A ONU diz que no ritmo que estamos, a nossa igualdade só chegará daqui 70 anos. Não dá para esperar tudo isso.
Tem ainda o PL 5069/ 2013 de Eduardo Cunha que dificulta a realização de abortos em casos legais já autorizados, como estupro.
Sim, ele quer também prender qualquer profissional da Saúde que dê informações às mulheres sobre os casos de aborto considerados legais. É algo absurdo. A gente não está vivendo a democracia ideal para as mulheres e nem para os trabalhadores. Temos que lutar contra qualquer passo para trás daquilo que o movimento de mulheres conquistou até hoje. O problema não é apenas os projetos dos evangélicos, mas também os da direita que nos levam ao retrocesso. Essa coisa de criminalizar movimento social, liberar porte de armas e reduzir a maioridade penal representam o retrocesso, assim como o mexer no INSS e aposentadoria. Essas coisas que reduzem por um milímetro que seja a democracia, ao invés de ampliá-la, afeta em específico as mulheres.
Como a senhora vê a aprovação de relevantes leis de proteção às mulheres contra violência a partir do governo Lula, caso da Lei Maria da Penha?
Se não fosse o governo de esquerda e o PT a gente certamente não teria isso. Acho, porém, que os nossos direitos ainda estão limitados e não estão completamente implantados. Nosso governo tem desenvolvido políticas em relação à violência doméstica, mas a violência assume várias facetas, como simbólica.
O que isso significa?
A mídia banaliza a violência e isso ajuda a banalizar a questão. Falta também diversidade e pluralidade na representação, acham que nós todas pensamos do mesmo jeito.
Qual a importância histórica do feminismo e participação da militância feminina dentro do PT, sobretudo no período de redemocratização?
As mulheres deram várias contribuições aos movimentos pela volta da democracia. Além da Passeata das Panelas Vazias (1953), nós ajudamos a organização do Fundo de Greve do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 1978, e fomos fundamentais na participação das greves, inclusive. Uma das primeiras fábricas a parar no ABC era considerada uma fábrica de mulheres, a Arteb em Diadema. O movimento pela Anistia começou também pelo Movimento Feminino Pela Anistia (1975) que depois se ampliou. Lembro de ter conversado com uma menina da Associação Nacional das Donas de Casa e a questão dentro da casa dela ao marido era “você aderiu à greve?” Se ele não tivesse, nem entrava em casa. As mulheres aderiram todas as batalhas pela redemocratização, ao mesmo tempo que tinham reivindicações e palavras de ordem específicas.
E qual a importância de militar dentro de um partido político?
Os partidos políticos começaram a prestar mais atenção para gente a partir do Segundo Congresso da Mulher Paulista, em 1979. Nós mulheres achávamos que deveria fazer os dois movimentos: fora e dentro do partido. Discutir dentro do partido a importância das pautas femininas era importante entre homens e mulheres, sobretudo questão de trabalho igual e salário igual. Se você leva o tema dentro do partido e também do sindicato espera-se que todo mundo defenda as bandeiras e não só as mulheres do movimento autônomo. Ampliação por parte de todos os membros era uma das nossas estratégias.
O conceito de “militant motherhood”, uma militância voltada às reivindicações sociais de mães como escola, creche e saúde de qualidade para os filhos e muito usado décadas passadas, ainda é contemporâneo? Dá para usá-lo hoje em dia?
Sim, ele se aplica de novo. Em 1974 na USP nós começamos a militar por causa de um cartaz que chamava as mães e mulheres para uma reunião. Eu não tinha filho na época, mas tinha acabado de ler “A Mulher Eunuco”, de Germaine Greer, e fui. Lá chegamos a conclusão de que os filhos são nossos, mas eles também são de interesse da sociedade e é importante que eles tenham direitos. Fizemos uma passeata com as crianças com chapéu de jornal e fomos até a reitoria pedir uma creche com a criançada. No fim das contas o reitor acabou convencido que uma creche na USP seria útil não só para crianças e suas mães, mas também para cursos relacionados, como pedagogia, e que todos se beneficiaram com isso. Em razão disso tivemos contato com mães da periferia que também estavam batalhando por creche e a primeira grande demanda que colocamos na rua foi a luta por creches. Organizamos o Primeiro Congresso da Mulher Paulista (1978) e lá a demanda prioritária foi justamente as creches. Conseguimos que o prefeito da época, Reynaldo de Barros, colocasse as creches como prioridade. E depois reivindicamos que o movimento de mulheres pudesse indicar as diretoras. Foi um período legal. E como hoje estamos com deficiência de creche de novo, a questão volta a ser necessária.
Tem uma crítica que sugere que pautas e a organização feminista têm enfoque na classe média; o que você acha disso?
Não, eu não consigo ver desta maneira. Uma das coisas mais legais que o movimento feminista tem feito nos últimos anos é a questão das Promotoras Legais Populares. A gente junta mulheres da periferia e dá cursos sobre cada um dos aspectos que afetam a vida das mulheres e elas se tornam multiplicadoras em suas comunidades. Nos últimos anos, as prefeituras com Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, sobretudo as petistas, têm também reproduzindo isso. Eu acho que a gente tem chegado mais na periferia.
Como avançar neste sentido de forma mais rápida a conquista de direitos?
É difícil porque a grande mídia tem nos boicotado como boicota os demais movimentos populares e sociais. Nos ignoram e eventualmente utilizam de humor para tentar nos ridicularizar. Exemplo disso é a campanha “Chega de Fiu Fiu” promovida na internet, que é uma campanha contra assédio sexual nas ruas, transporte coletivo, ao mesmo tempo que tínhamos um quadro no Zorra Total, programa da Rede Globo, com duas mulheres sendo assediadas no transporte público e uma falava “aproveita, sua boba!”. O humor não deve ser politicamente correto, mas isso ajuda a normalizar a situação e a perpetuar que as mulheres gostam disso. Temos que nos adequar às contradições como sociedade.
“O humor não deve ser politicamente correto, mas isso ajuda a normalizar a situação”
Como estudiosa da representação da mulher na mídia, como vê o tratamento da primeira presidente mulher do Brasil?
Ela está sendo tratada de um jeito absolutamente preconceituoso pela direita que era silenciosa e começou a ser mais barulhenta. Durante aqueles atos do ‘Não Vai Ter Copa’ os xingamentos vieram da ala VIP do estádio, de pessoas que pagavam R$ 1.500 para ver um jogo. Eram xingamentos de baixo calão que você não ouve assim sobre qualquer cidadão. E tem sempre os questionamentos sobre as roupas dela, se engordou ou emagreceu. Eles denotam uma atenção absolutamente diferenciada pelo fato dela ser mulher. Agora, as críticas ao governo e as passeatas condenam tudo aquilo que a gente considera avanço em termos de inclusão social e está sendo questionado como uma coisa inadequada por quem está na classe média ou acima dela.
Há um recente levante feminista não só no Brasil, mas no mundo todo. Qual a hipótese dele ter ressurgido com mais força, especialmente de 2010 para cá?
Não dá para ter relações iguais entre homens e mulheres no sistema capitalista. Até os países mais desenvolvidos são locais que vivem no capitalismo e, portanto, dificuldades continuarão existindo e dificilmente serão ultrapassadas dentro deste modelo político e econômico. Lá, o Estado de bem-estar social fornece coisas às mulheres que nunca tivemos aqui, como creche, escola, educação e saúde de qualidade. Agora com a crise até mesmo esse Estado começou a se tornar mínimo e esses direitos a desaparecer e as mulheres a se reorganizam de novo. Enquanto não mudarmos a estrutura do esquema político dificilmente vamos chegar à igualdade.
Da Redação da Agência PT de Notícias