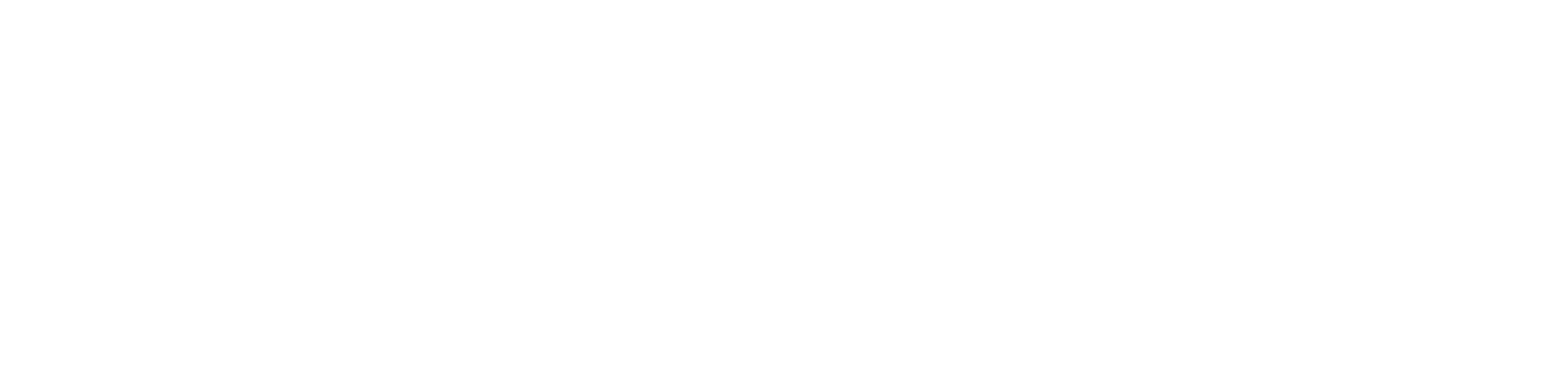Violência machista contra mulheres indígenas — a lei Maria da Penha é suficiente?
Casos graves de violência contra a mulher indígena tem despontado na mídia. Quais os limites da legislação atual para proteger as mulheres que vivem em aldeias.
Publicado em

Redação, Elas Por Elas
Nesta semana, o estado do Amazonas se abalou com o estupro e assassinato de uma indígena, de 5 anos, que dormia na rede ao lado da mãe quando foi capturada. Ana Beatriz, do povo Sateré-Mawé, morava em Barreirinha, cidade ao lado de Parintins, foi mais uma vítima de feminicídio de mulheres indígenas. O agressor, de 16 anos, confessou o crime e está detido para julgamento.
A violência machista contra mulheres indígenas é uma realidade complexa em que a Lei Maria da Penha pode estar muito longe de ser aplicada e, até mesmo, compreendida. Entre 2007 e 2017, foram registradas 8221 notificações de casos de violência contra mulheres indígenas. Em um terço dos casos, assim como a maior parte da população feminina, o agressor é uma pessoa próxima como o ex ou atual companheiro.
“O combate à violência machista entre as indígenas possui especificidades próprias não apenas da etnia, mas também de cada povo. É preciso combater essa falácia de que faz ‘parte da cultura’. Isso não é verdade. A influência da cultura branca, a entrada de álcool e outros fatores abalam a estrutura e a organização dentro da aldeia, levando a situações trágicas como essas”, explica Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT.
Os Karajás são habitantes seculares das margens do rio Araguaia nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, o que torna as águas um componente importante do deslocamento das pessoas que vivem em suas aldeias. Dependendo da localidade, é preciso enfrentar horas de viagem e mais de um tipo de meio de transporte para ir de um lugar a outro. Num contexto de violência doméstica, essas distâncias tornam as mulheres indígenas mais vulneráveis. “Aí a gente denuncia, volta para a aldeia sem saber se medidas de proteção vão funcionar, e apanha mais, por isso que as mulheres têm medo”, conta Mariquinha Karajá, 59, que sofreu agressão do marido por anos, em reportagem à Revista AzMina.
De acordo com a apuração do veículo, ela não denunciou o marido pelas agressões, que só pararam porque ele morreu. “Ele me batia porque quando bebia criava coisas na cabeça dele de que eu o estava traindo. Ele não me machucava porque eu conseguia correr. Até com arma de fogo eu fui ameaçada. Foi assim a vida toda, até ele morrer”, relatou.
No Mato Grosso do Sul, o Relatório Estatístico do Poder Judiciário sobre Feminicídio de 2019 aponta que 14% dos casos desse tipo de crime envolveram vítima ou agressor indígena, ao passo que a população indígena representa apenas 3% da população sul-mato-grossense, conforme dados do IBGE. A necessidade urgente de informação e de apresentação de alternativa levou o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (Nudem) a distribuir cartilhas sobre a Lei Maria da Penha nas comunidades indígenas. Foram 1500 documentos divididos entre as Terenas e as Guaranis com as especificidades da Lei traduzidas nas línguas de origem.
Apesar dos esforços da Lei Maria da Penha chegarem nas aldeias, ainda há muitas barreiras a serem enfrentadas — como a falta de acesso à informação, as restrições geográficas e a própria lógica de organização das sociedades em que, muitas vezes, não se aplica à realidade de grande parte das mulheres indígenas.
O estudo “Mulheres indígenas, Direitos e Políticas Públicas”, do Instituto de Estudos Sócio Econômicos (INESC) revela a falta de informação sobre a Lei Maria da Penha no contexto das mulheres indígenas. E de como a lei apresenta-se como uma realidade ou, quando não, as informações são repassadas de forma distorcida. Por exemplo, tem amedrontado bastante as mulheres indígenas a informação de que, caso façam a denúncia de que foram vítimas de violência, serão tiradas das suas casas, das suas terras, dos seus territórios de convívio e levadas para as tais casas de abrigo, fora do seu lar.
“Não é que as indígenas sejam contra a lei, mas elas precisam se reconhecer na legislação. E isso ainda não acontece, porque não existe uma ‘mulher universal’. Por isso, a política de enfrentamento à violência contra mulheres indígenas necessita de políticas públicas específicas, que dialoguem com a realidade delas“, ressalta Anne.
No município de São Gabriel da Cachoeira, região do Alto Rio Negro do noroeste da Amazônia, onde existem povos de 23 etnias indígenas, a complexidade aumenta — é o que aponta a ONG Amazônia Real. Devido à diversidade e às diferenças entre esses grupos, inclusive de línguas, a dificuldade passa até mesmo por dar nome a esse tipo de violência. Mas isso não impede que os números mostrem a gravidade da situação: no período de dez anos, entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2019, foram registrados na delegacia do município 4.681 eram de violência contra a mulher. Isso significa que nesse período foram registrados, em média, 1,28 casos de violência por dia.
A estatística é do Projeto Mulheres Indígenas, Gênero e Violência no Rio Negro, realizado pelo Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Dmirn/Foirn) em parceria com o Observatório da Violência de Gênero no Amazonas (Ovgam), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o Instituto Socioambiental (ISA) e com Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).
A falta de coleta e sistematização de dados impede, por exemplo, a elaboração de políticas públicas que correspondam à situação das mulheres indígenas. No caso de São Gabriel da Cachoeira, a ONG revela que essa é a primeira cidade do Amazonas a ter dados sobre a violência de gênero coletados no período de dez anos. A estatística realizada entre os anos 2010 a 2014 apontou que, dos 1.181 crimes registrados, 590 foram de lesão corporal; 139 de ameaças; 110 ameaças de morte; 115 de calúnia, injúria e difamação; 50 estupros; 26 de violência doméstica e família.
Não foram observados nos boletins de ocorrência casos de homicídios ou feminicídios naquele período, o que não significa que não tenha ocorrido esses crimes. A pesquisa realizada entre 2010 e 2014 fez um diagnóstico dos agressores e apontou que a violência contra a mulher indígena, na grande maioria dos casos, o/a agressor/a tem alguma ligação com a vítima. Em pelo menos 499 dos 1.181 ocorrências, os responsáveis pela violência foram companheiros ou ex companheiros. Entre as mulheres que sofreram as agressões, 622 tinham idade entre 25 anos a 64 anos, e 331 eram jovens e adolescentes.
Essas são situações em que se apresenta a necessidade de aprimoramento da Lei Maria da Penha, não apenas do reconhecimento de suas limitações. Trazemos aqui dois casos que foram levantados pelo estudo do INESC.
Após passar por cirurgia, a indígena Adélia Garcia Garcette, de 37 anos, foi transferida para a UTI do Hospital Evangélico. Ela está em estado de coma, entubada, inconsciente e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde da mulher é grave. Adélia foi atingida por vários golpes de facão na cabeça. A agressão foi tão grave que a mulher teve o olho esquerdo arrancado. Ela também teve a mão esquerda praticamente decepada. No Hospital Evangélico, ela passou por uma cirurgia no crânio e outra para amputar os quatro dedos mutilados. O principal suspeito da agressão foi preso. Adélia teria dito a Aristides Soares, de 30 anos, que ele seria o pai de seu bebê… (Adélia não resistiu e morreu) (Perin, 2007).
Este outro caso ocorreu no Sul do País: Uma pedra acabou com a vida de uma moradora da reserva indígena Cantagalo, na parada 25 da Lomba do Pinheiro, limite de Porto Alegre com Viamão. Segundo a polícia, a índia Vera Lúcia da Silva, 25 anos, foi morta na manhã de ontem, após ter sido apedrejada na cabeça. O caso está sendo investigado pela 3ª DP de Viamão, que já tem um suspeito. O companheiro da vítima seria o autor do crime. (Zero Hora, 2007).
De acordo com a pesquisa, esses casos são apenas amostras da violência que acomete as mulheres indígenas. Portanto, a Lei Maria da Penha vai ao encontro dos anseios indígenas, como instrumento para coibir tais práticas, e as mulheres do movimento indígena estão interessadas em incorporar os benefícios da lei às conquistas já obtidas pelo próprio movimento, em sua trajetória.
Vozes da Resistência – Indígenas se levantam
A trajetória de organização das mulheres indígenas para enfrentar não apenas a violência doméstica, mas colocar na agenda pública as suas principais pautas como a saúde pública vem de mais de trinta anos. De acordo com estudo do INESC, as duas primeiras organizações brasileiras exclusivas de mulheres indígenas surgiram na década de 1980. As pioneiras foram a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (Amarn) e a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio Uaupés e Tiguié (Amitrut).
As demais foram constituídas a partir da década de 1990. Em 2000, na Assembléia Ordinária da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), em Santarém, Pará, foi reivindicada a criação de um espaço específico para as demandas das mulheres indígenas. Em junho de 2002 foi realizado em Manaus o I Encontro de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. No evento foi criado o Departamento de Mulheres Indígenas (DMI/Coiab) com o objetivo de defender os direitos e interesses das mulheres indígenas no âmbito local, regional, nacional e internacional.
Ao longo dos governos Lula e Dilma, a pauta se intensificou com a criação de mecanismos de proteção da mulher contra a violência, bem como a criação da própria Lei Maria da Penha. Já em 2019, uma importante marcha de mulheres indígenas em Brasília também demarcou a resistência e a organização dessas mulheres contra o atual governo que, quando ataca os indígenas indiscriminadamente, ataca ainda mais e sobretudo as mulheres. No caso de Ana Beatriz, de 5 anos, protestos de rua vêm sendo realizados para coibir a violência contra mulheres indígenas e pautar a questão da desigualdade de gênero nas aldeias.
“Os indígenas são povos comunitários. O enfrentamento à violência não passa apenas por envolver as mulheres de forma isolada, mas toda a aldeia e combater as raízes do problema que, na maior parte das vezes, também está fora do território — como o desemprego, a fome, o ataque às formas de subsistência, dentre outras questões”, finaliza Anne Moura.