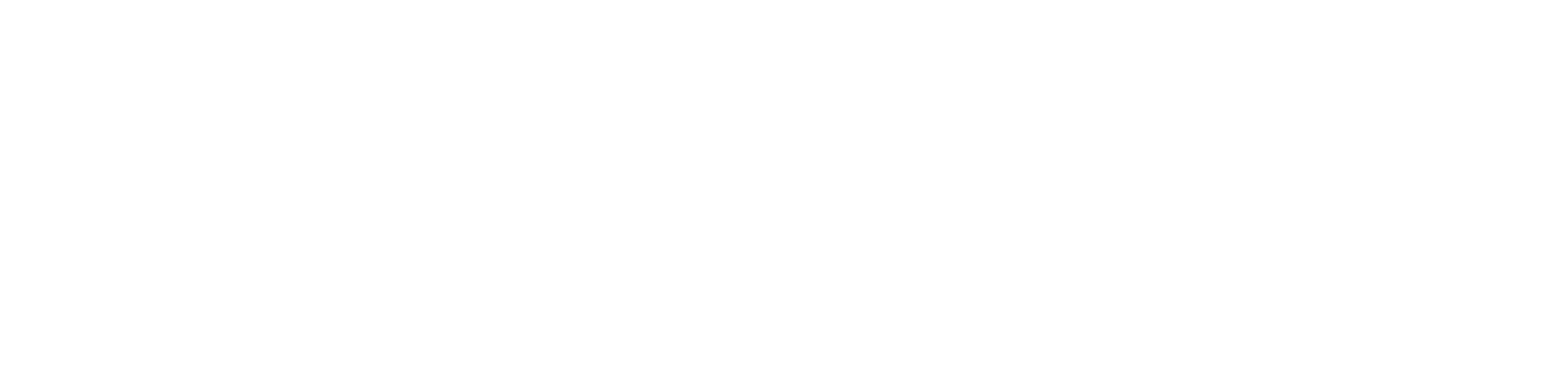Ditadura censurou informações sobre epidemia da meningite
Bolsonaro diz que Forças Armadas não cumprem “ordens absurdas”, mas manda ministro esconder números da pandemia do coronavírus. Na primeira metade da década de 1970, a omissão da ditadura militar causou a maior epidemia de meningite da história do país. Até hoje não se sabe quantos morreram
Publicado em

A queda-de-braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal tem produzido fricções em série. Como a da nota conjunta com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, divulgada na noite de sexta (12) depois de decisão do ministro Luiz Fux delimitando o alcance do poder do chefe da República sobre as Forças Armadas.
O magistrado decidiu, liminarmente, que é “limitado” o poder de chefia do presidente sobre os militares, não podendo utilizá-los para “indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros Poderes“. Também definiu que, de acordo com Constituição, as Forças não têm a prerrogativa de atuar como poder moderador entre Executivo, Legislativo e Judiciário.
Para Bolsonaro, o entendimento do ministro “bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas sempre ao lado da democracia e da liberdade“. Mas lembrou que é “autoridade suprema” sobre Exército, Marinha e Força Aérea, e ponderou que as Forças “não cumprem ordens absurdas, como p. ex. a tomada de Poder. Também não aceitam tentativas de tomada de Poder por outro Poder da República, ao arrepio das Leis, ou por conta de julgamentos políticos“.
O recado poderia ser endereçado também a outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na segunda (8) mandou o Ministério da Saúde voltar a divulgar o número total de casos confirmados e de mortes por Covid-19 diariamente no site da pasta, após tentativa malsucedida do governo de escamotear os dados, exibindo apenas informações colhidas no período de 24 horas, no fim da semana anterior.
“A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade”, defendeu Moraes.
No dia 5 de junho, o portal do Ministério da Saúde (MS) com dados sobre a pandemia de coronavírus no país ficou fora do ar. O site voltou a funcionar só no dia seguinte, mostrando apenas os casos registrados no dia – ficaram de fora o número total de mortos e contaminados pela doença e o histórico dos dados. Na segunda, o órgão anunciou que cumpriria a ordem do ministro, mas com destaque para números do dia.
Em resposta, se intensificaram iniciativas da sociedade civil para divulgação dos dados omitidos pelo governo: repositório de dados, boletins e painéis com os números da doença. Até mesmo grandes veículos de imprensa anunciaram uma parceria para divulgação de números completos sobre o novo coronavírus no Brasil.
O que Bianca Leandro, professora-pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), considerou “extremamente válida”, embora a responsabilidade seja do governo. “Obstruir acesso a esses dados, nesse momento, é colocar em risco a vida das pessoas”, afirma a professora.
Os dados acumulados, segundo a especialista, são importantes para saber como está a evolução da doença no país, e, a partir disso, fazer estimativas e direcionar políticas públicas. “Então, isso afeta a realização de estudos e pesquisas sobre a situação dessa doença no Brasil. E eu acho que é muito grave também, pois nega à população o direito de saber o estágio da epidemia, porque o acesso à informação é essencial para nós tenhamos engajamento da sociedade na adesão das medidas preventivas.”
O Brasil IO, repositório de dados públicos fundado em 2018, disponibiliza uma série histórica de casos e óbitos confirmados por município desde o início da pandemia, em março. Depois que o MS deixou de publicar os dados completos, eles passaram a editar um boletim diário de casos da doença. Álvaro Justen, fundador do site, conta que percebeu ainda em março que “não dava para contar com o Ministério da Saúde”. Na época, no início da pandemia, o site do órgão ficou fora do ar por uma semana.
Para Fernanda Campagnucci, diretora da Open Knowledge Brasil, organização que promove a transparência e o conhecimento livre, o governo federal está ocultando os dados para evitar críticas. “É uma forma de maquiar mesmo a situação para parecer que ela é menos grave do que é”, explica a ativista. “Sabemos que negar os fatos e ocultar os dados é um modus operandi.”
“Existe uma tradição do Estado brasileiro de ampliar a transparência, mas o que a gente está vendo deste governo é um caminho contrário”, afirma Fernanda. Levantamento da Agência Pública corrobora com essa hipótese, mostrando que a quantidade de pedidos de acesso à informação negados quintuplicou em 2019 em relação ao ano anterior.
Campagnucci acusa o governo Bolsonaro de fazer “ameaças constantes de deixar de produzir informação sempre que essa informação desagrada ao invés de criar política pública para atacar o problema.”
O fundador do Lagom Dados, Marcelo Soares, previu esse “apagão de dados” antes de Bolsonaro assumir a presidência. “Quando saiu o resultado das eleições eu comprei um HD só para fazer backup de dados públicos. Conhecendo a atuação do então deputado eu imaginava que haveria a tentativa de cercear o acesso aos dados. Eles só gostam da informação que os enaltece”, diz. Ele reafirma, contudo, que enquanto os estados disponibilizarem os dados ele vai continuar publicando “mesmo que o inquilino do Alvorada consiga castrar as informações”.
A diretora da Open Knowledge reconhece que a questão técnica pode prejudicar a transparência, mas pontua que “existe um teor de vontade política grande para fazer isso acontecer”. “Posicionamentos contrários à transparência não são técnicos, são políticos”, defende.
Censura à meningite
A controvérsia envolvendo as tentativas do governo Bolsonaro de omitir ou mesmo mascarar informações remete a um episódio ocorrido nos anos 1970, em plena ditadura militar. Foi quando a omissão das autoridades possibilitou o alastramento da maior epidemia de meningite da história do país.
A propagação teve início em 1971, no distrito de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Logo, a população mais carente começou a se queixar de sintomas clássicos, como dor de cabeça, febre alta e rigidez na nuca. Nos bairros mais pobres, muitos morreram sem diagnóstico ou tratamento.
Em novembro daquele ano, o que parecia ser um surto restrito a uma localidade logo se alastrou e, aos poucos, ganhou proporções epidêmicas. A doença atingiu todos os bairros da cidade de São Paulo e registrou a média de 1,15 óbitos por dia.
Em setembro de 1974, a epidemia atingiu o ápice. A proporção era de 200 casos por 100 mil habitantes. Algo semelhante só se via no “Cinturão Africano da Meningite”, área que hoje compreende 26 países e se estende do Senegal até a Etiópia.
“Não houve quarentena porque o período de incubação da meningite é muito curto”, explicou à ‘BBC Brasil’ a epidemiologista Rita Barradas Barata, doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa.
Até então, uma pequena parcela da população, quase nula, sabia da existência da epidemia. Sob o pretexto de não causar pânico na população, a censura proibiu toda e qualquer reportagem que julgasse “alarmista” ou “tendenciosa”, sobre a moléstia.
“Assim que surgiu, foi tratada como uma questão de segurança nacional, e os meios de comunicação proibidos de falar sobre a doença”, afirma a jornalista Catarina Schneider, mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e autora da tese ‘A Construção Discursiva dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo sobre a Epidemia de Meningite na Ditadura Militar Brasileira (1971-1975)’. “Essa tentativa de silenciamento impediu que ações rápidas e adequadas fossem tomadas”.
Em 1971, quando foram registrados os primeiros casos, o epidemiologista José Cássio de Moraes, doutor em Saúde Pública pela USP e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, integrava uma comissão de médicos de diferentes áreas que, juntos, detectaram o surto da doença e procuraram alertar as autoridades.
Em tempos de “milagre econômico”, o governo se recusou a admitir a existência de uma epidemia. “Os militares proibiram a divulgação de dados. Pensavam que conseguiriam deter a epidemia por decreto. Se eu não divulgo, é como se não existisse. Não sabiam que o vírus era analfabeto e não sabia ler Diário Oficial”, ironiza o médico.
Dali por diante, médicos de instituições públicas foram proibidos de conceder entrevistas à imprensa. O jeito era dar declarações em “off” para jornalistas de confiança. Mesmo assim, as poucas matérias publicadas, alertando a população dos riscos da meningite, eram desmentidas pelas autoridades.
“Ao governo não interessava a divulgação de notícias negativas. Negar a existência da epidemia foi um erro porque facilitou sua propagação e atrasou a adoção de medidas necessárias ao seu combate. Numa situação dessas, quanto mais rapidamente essas medidas forem adotadas, menores serão as perdas de vidas e os danos à economia”, afirma o historiador Carlos Fidelis Ponte, mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Geisel mudou orientação
A troca de presidente, com a entrada do general Ernesto Geisel, em 1974, facilitaria a mudança de atitude das autoridades. Em julho de 1974 foi criada a Comissão Nacional de Controle da Meningite, encarregada de traçar a política de vigilância epidemiológica. Mas pelo menos sete estados já totalizavam 67 mil casos – 40 mil deles só em São Paulo.
A população, quando soube da epidemia, entrou em pânico. Na falta de remédios e de vacinas, recorria a panaceias milagrosas. “Naquela época, não havia rede social, mas já existiam fake news. A boataria atrapalhou bastante”, recorda José Cássio.
O governo suspendeu as aulas e mandou os estudantes de volta para casa. Quando era registrado algum caso nas dependências das escolas, as autoridades sanitárias passavam formol nas mesas e carteiras. Em algumas cidades, as escolas públicas foram transformadas em hospitais de campanha para atender os doentes.
Nos hospitais, a epidemia sobrecarregou especialistas em doenças infecciosas. Médicos de outras áreas, para evitar a contaminação, usavam capacetes, óculos e botas. Outros, ao contrário, atendiam pacientes sem qualquer tipo de proteção. Um terceiro grupo preferiu mudar para o interior, com suas famílias.
Uma das primeiras medidas foi prescrever sulfa. Na esperança de deter o avanço da epidemia, a população passou a tomar o antibiótico por conta própria. “O estoque acabou rapidamente e a bactéria ficou resistente”, recorda José Cássio.
O número de casos registrados em janeiro de 1975 foi seis vezes maior do que o mesmo mês de 1974. Em 1975, o Brasil deu início à Campanha Nacional de Vacinação Contra a Meningite Meningocócica (Camem), para garantir a vacinação de 10 milhões de pessoas em apenas quatro dias. Foi quando, para estimular a ida em massa da população aos postos de saúde, o governo passou a divulgar os números da doença. Mas o esquema adotado durante a campanha não permitiu que fosse fornecido qualquer comprovante às pessoas vacinadas, nem o registro do número de vacinados.
Após a campanha os casos diminuíram, mas só retornaram a valores endêmicos dois anos depois. Até julho de 1977 ainda eram registradas incidências acima do esperado.
Os números de casos e de óbitos até hoje são contraditórios. O estudo ‘A Doença Meningocócica em São Paulo no Século XX: Características Epidemiológicas’, de autoria de José Cássio de Moraes e Rita Barradas Barata, calcula que, no período epidêmico, que durou de 1971 a 1976, foram registrados 19,9 mil casos da doença e 1,6 mil óbitos. Já a edição de 30 de dezembro de 1974 do jornal ‘O Globo’ divulgou que, só naquele ano, a epidemia deixou um saldo de 111 mortos no Rio Grande do Sul, 304 no Rio de Janeiro e 2,5 mil em São Paulo.